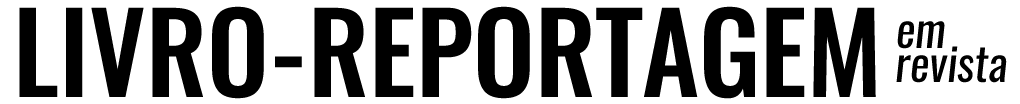Para muitas mulheres, o debate acerca do mercado de trabalho, inclusive no meio cinematográfico, é uma discussão recente. Por identificação com a área, influências familiares, oportunidades casuais ou descoberta em meio às escolhas universitárias, elas decidiram trabalhar nas mais diversas funções dentro da indústria do cinema. Hoje, reconhecem a importância da reflexão sobre a equidade de gênero no trabalho.
Para a paulistana Caru, trabalhar com cinema não foi fruto de inspiração — provavelmente porque ela sempre viveu dentro da realidade do cinema, já que a mãe é a também diretora, Tata Amaral. Assim, ela vivenciou os prós e contras da área: o lado encantador da criação e o lado instável da profissão no Brasil, pois, como ela diz, viu a mãe viver de cinema e estar “constantemente dura”, contando com picos financeiros logo entrecortados por períodos de baixa.
Mesmo assim, ela, desde jovem, inseriu-se na área, participando da produção de eventos relacionados ao cinema, como mostras e festivais: “Trabalhei na área de cinema mesmo quando eu não queria porque era mais fácil de conseguir emprego. Eu já estava lá, já conhecia todo mundo”. Ainda assim, quando precisou escolher o curso universitário, optou cursar História pela USP. Depois de se formar, percebeu que, talvez, ser historiadora não era a profissão que ela desejava seguir. Em meio à indecisão, ela se deparou com o desejo da mãe em criar uma produtora, em 2006.
Decidiu experimentar. Arriscou-se pelo caminho da direção e encontrou ali o seu lugar. De lá pra cá, dirigiu obras como o documentário Mascarianas e o longa-metragem De Menor, vencedor do Festival do Rio em 2013. Inevitavelmente, a experiência na área, a formação em História e a convivência com o Coletivo tiveram peso na reflexão de Caru sobre o papel da mulher na sociedade.
“Esse processo de tomada de consciência faz você colocar outros óculos para enxergar a realidade e não tem mais como voltar. Não é que você vai deixar de reproduzir certos comportamentos imediatamente, mas você não vai enxergar a realidade como antes. É o abalo das suas estruturas internas, mas que coletivamente culmina no abalo de uma estrutura social macro”, pontua.
Já para a também paulistana Manoela, de 41 anos, a realidade do cinema não fazia parte de sua vida. Sua relação com os filmes era comum: simplesmente gostava de ir ao cinema, gostava dos filmes. O curso escolhido por ela foi o Jornalismo da ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes). A perspectiva instável da área a deixou desmotivada e insatisfeita logo no início do segundo ano de faculdade.
Pensou que seguiria pelos caminhos da Antropologia ou da Literatura, mas se aproximou do campo jornalístico que abria espaço para outras possibilidades e olhares, como o documentário. As obras de Eduardo Coutinho, como Cabra Marcado, a encantaram. Junto de outras amigas que se interessavam pela área, passou a pesquisar e pensar em projetos, o que resultou no contato com um cineasta que tinha sido um dos fundadores da EICTV (Escola Internacional de Cinema e Televisão).
A escola, que fica em San Antonio de Los Baños (Cuba), foi o seu próximo destino para estudar a direção de documentários: “Lá realmente as portas do que é documentário se abriram, assim como a minha relação com cinema, de me pensar como uma trabalhadora do cinema”, conta.
Na direção, já comandou projetos como o documentário Pulsações, de 2011, e o curta-metragem, também documentário, chamado O Voo, de 2015. Ao perceber a presença de uma camada de jovens estudantes no seminário realizado pelo Coletivo, ela pode relembrar e repensar a sua época de atuação estudantil:
“A gente na época de faculdade nem pensava nisso [na dificuldade de inserção das mulheres no mercado cinematográfico], isso não era uma questão, parecia que isso já tinha sido resolvido no passado, as mulheres já estavam em outro lugar. Foi uma descoberta a gente entender que não, e a gente até perceber na nossa experiência as diversas formas em que essa diferença se dá. Você pode passar um bom tempo da sua vida sem identificar as opressões, as diferenciações”.
Para a montadora Cristina Amaral, de 63 anos, o cinema também era uma realidade distante. De Presidente Venceslau, a principal relação de sua família com a área era a coleção de revistas de cinema, construída cuidadosamente pela mãe. Quando aprendeu a ler, Cristina associava as fotos aos nomes do atores. Com a chegada da primeira televisão na casa, os filmes dublados ou legendados tornaram-se programação constante da família.
Adolescente, ganhou sua primeira máquina fotográfica e passou a praticar a atividade como hobbie. Por meio de um teste vocacional no ensino médio, decidiu cursar o curso de Cinema na ECA nos anos 80. Lá, ela caminhou por todas as áreas de realização de cinema, mas foi na montagem que encontrou maior identificação: “Ali eu achei o espaço em que eu me sentia bem e a percepção que eu tive ali foi de que era um instante em que se juntava todas as peças de um filme; era ali que, realmente, um filme se realizava”.
De trabalho em trabalho, ela se tornou uma das mais respeitadas montadoras no cenário paulistano e brasileiro. É responsável pela edição de filmes como Ôri (1989) de Raquel Gerber, Alma Corsária (1993) de Carlos Reichenbach e Serras da Desordem (2006) de Andrea Tonacci. Ela atribui as conquistas de sua trajetória às escolhas que fez, mas reflete sobre como é ser mulher na área:
“O problema não é o mercado de trabalho, é uma questão anterior. Como estão estruturadas as famílias, como te colocam no mundo. Ficam se perguntando como abrir o mercado de trabalho, mas é a gente, chutando a porta, que abre”, ressalta.
No caso da cineasta e professora universitária Giselle Gubernikoff, as profissões dos pais foram uma influência importante em sua formação artística: a mãe, Eunice de Conte, era uma violinista e o pai, Samuel Gubernikoff, um marchand[1] em Nova Iorque, onde ela nasceu. A mãe, que via o cinema ainda como um tabu, desejava que ela cursasse Direito ou Jornalismo. Ela chegou a cursar o segundo curso, mas em uma oportunidade de transferência, optou pela graduação em Cinema na ECA em 1971.
Giselle produziu aproximadamente cinco filmes como aluna, sendo um deles o curta-metragem Tomadas no lixo, de 1973. O filme foi exibido em um festival na Bahia e teve cenas cortadas pela censura da ditadura militar. A cineasta teve a experiência de trabalhar com o fotógrafo Jean Manzon e com o cineasta João Daniel Tikhomiroff, atuando por aproximadamente 20 anos como diretora, roteirista e produtora no mercado de cinema publicitário.
Hoje, Giselle é professora no Departamento de Artes Plásticas da ECA e dedicou-se, também, aos estudos de gênero na área cinematográfica – é autora do livro “Cinema, identidade e feminismo”. Ao comparar a realidade na época em que começou com o cenário atual, Giselle diz:
“É prodigioso o número de mulheres na direção hoje em dia. Diferente de mim, que precisei trabalhar por cinco anos [em determinada produtora], com os diretores fazendo todos os erros possíveis, para olharem para mim e dizerem ‘agora você pode dirigir’. Precisei esperar todo mundo errar. Ainda hoje, muitos homens querem tomar muitos dos lugares apenas pelo fato de serem homens, por se acharem melhores”.
A diretora de arte Vera Hamburger, na verdade, gostaria de ser historiadora. Quando ela precisou optar pelo curso universitário, aconselharam-na a seguir o caminho da Arquitetura na FAU-USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) em 1983, que também envolveria as matérias de História. Sobrinha do renomado cenógrafo e arquiteto, Flávio Império, ela nunca pensou em trabalhar com cenografia. Foi após a morte do tio que, por acaso, ela participou da construção do cenário e figurino da peça O Homem e o Cavalo, de José Celso Martinez Correa, em 1985.
O irmão, Cao Hamburger, que já trabalhava com cinema, a indicou para o seu primeiro estágio no filme Beijo 2348/72, em 1987, de Walter Rogério. Segundo Vera, a função de direção de arte – que unifica cenografia, figurino e efeitos visuais – surgiu no Brasil nos anos 80. Com sua geração, surgem, também, mais mulheres na área.
Responsável pela direção de arte de filmes como Carandiru (2003) e Ó Pai, Ó (2007), Vera reflete sobre a sua trajetória como mulher no mercado de cinema:
“Eu sempre tive muita dificuldade não só de ser mulher, mas também de trabalhar com uma área que é tida como supérflua, então são duas coisas que você tem que provar – duas barreiras. O tempo inteiro na vida tentei provar, tenho tentado e conseguido. Provar o quão importante é a área. E o quão natural é uma mulher querer trabalhar, trabalhar, ser competente e boa no que faz”.
[1] Profissional que negocia ou comercializa obras de arte.

Crédito da imagem: Pixabay License
Capítulo do livro “Mulheres no cinema: perspectivas e desafios no mercado de trabalho de São Paulo“