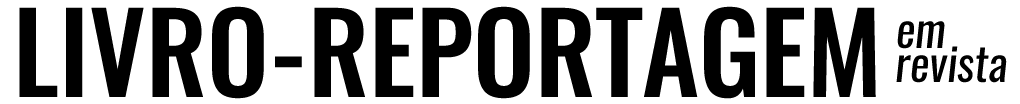A origem do termo e outras discussões
Como é possível notar, o solo estava fértil para os que estavam abaixo dos 20. Eles eram os personagens principais das histórias que eles mesmos inventavam. Se não tomavam o palco, se mantinham nos bastidores. Vocalistas, guitarristas, baixistas, bateristas. Produtores, promoters, fotógrafos, fãs. Todos no ápice da juventude, tentando se descobrir e fazer disso uma grande descontração. Quando não tinha um promoter que comprasse a ideia, eles mesmos se organizavam ligando uns para os outros porque estavam determinados a fazer acontecer. Ao mesmo tempo, alguém já estava observando de longe. Um senhor, a quem eles chamariam de “coroa”, que sabia descobrir no meio do barulho qual seria a nova aposta, que tinha como prazer observar para onde se encaminhava a cultura urbana das gerações posteriores a sua. Luiz Carlos Rosa, definido por muitos como louco – no mais nobre sentido, um “maluco beleza” – é a quem se atribui, quase que unanimemente, a responsabilidade da criação do termo Riocore.
Luiz vive hoje, aos 59 anos, em um sítio no sul de Minas Gerais criando cachorros. Resolveu dar um tempo da agitação dos shows que produziu, mas lembra bem das histórias que viveu nos bastidores. Inclusive, foi mesmo por trás dos palcos que ele deu os primeiros passos na música. Começou como contrarregra na primeira edição Rock In Rio, evento histórico de 1985, depois passou pelo Hollywood Rock e o Metropolitan. Na produtora do irmão, trabalhou com Dani Carlos, Leila Pinheiro, Luiz Melodia, e organizava turnês de ex-participantes do reality show Fama, da Rede Globo. Depois de um tempo aquilo não lhe dava mais satisfação e foi atrás de coisas diferentes. Frequentador da Casa da Matriz, em Botafogo, ficava de olhos e ouvidos atentos à cena independente. Apesar de ser mais velho, gostava da “atitude da garotada”.
Quando olhava mais de perto os eventos, dizia para si mesmo “Isso não é show, isso é festinha”, pois os equipamentos eram de péssima qualidade. À vista disso, criou uma produtora que intitulou X Music, e com o nome dela movimentou diversos eventos, entre eles X Music Ao Vivo, para ajudar a promover as bandas cariocas relacionadas ao Hardcore, Pop Punk e outros gêneros. Sempre fez questão de colocar camarins bem equipados, as melhores aparelhagens de som que era capaz de conseguir, e bons roadies, profissionais que apoiam a montagem e desmontagens dos palcos e oferecem todo suporte técnico no momento de testar os instrumentos – um deles era o baterista Bira da banda Vitória Régia, que acompanhava o cantor Tim Maia. Luiz lembra que os “meninos” ficavam loucos quando viam Bira tocando ou quando se deparavam com a estrutura dos eventos como um todo, já que não estavam acostumados.
Os maiores empresários do momento, para ele, eram de fato Guilherme Araújo, Rafael Brahma e Marcos Sketch, que está hoje com o grupo Braza. O problema é que, depois de um tempo, o que ele descreve como “conduta política” passou a atrapalhar: novos festivais surgiam nas mãos desses então jovens agenciadores, virando de alguma forma seus concorrentes, pois Forfun só tocava no Rio Summer Nights com Guilherme, que os estava empresariando, da mesma forma que Darvin só acompanhava o Rafael. “Eu era bem mais velho e mais acostumado, os mais novos pensavam diferente. Eu fazia por amor, por prazer, os outros só pensavam em dinheiro”, reclama. Mesmo assim, ressentindo-se de certa forma pelo que considera uma traição, não desmerece o trabalho deles, e de outras pessoas, e segue tecendo elogios e confessa também que aprendeu muito com a nova geração sobre as novas formas de divulgação por meio da internet.
A atividade não durou mais que três anos, mas deu tempo de, em 2005, chegar ao Circo Voador. Na sequência, se apresentaram Catch Side, Emoponto, Ramirez, Scracho, Asterisco Zero e US 4 fechando a noite. Até ali, os eventos se concentravam mais na Zona Sul do que no Centro, e talvez por isso a quantidade de público não chegou perto de lotar a casa – apenas um terço da capacidade de 3.000. Mas pela resenha publicada no site Punknet na época, nem as bandas nem o público se intimidaram, estavam curtindo tanto o momento que garantiram um dos melhores shows do ano. A festa levou o título de Circo Riocore e foi a primeira vez, pelo que os músicos lembram, que o termo foi usado comercialmente. Os artistas estranharam um pouco, mas não ao ponto de rejeitarem o nome ou discutirem por isso. A ideia nunca foi comprada por eles, Rosa percebeu isso, mas nenhum dos lados fez questão de reclamar.
Essa é a versão que a maioria conta. Não sabem de onde veio o termo, mas ouviam aqui e acolá alguém mencioná-lo. Apenas uma pessoa, não sem antes fazer mistério, chama para si a responsabilidade: “Fui eu que criei”. Rodrigo Costa, 38 anos, baixista e vocalista da banda Forfun, explica: “Vinha querendo achar algum termo para caracterizar melhor aquele tipo de som que fazíamos, e me inspirei em abreviações como SPHC (São Paulo Hardcore) e NYHC (New York Hardcore). Mas não éramos Hardcore, estávamos mais para o Pop Punk em termos de colocação dentro do universo Punk Rock, creio eu, e tínhamos algumas características próprias de um certo tipo de ‘rock de bermudas’, mais praiano, mais do Rio. Então era um ‘hardcorezinho’ pop do Rio, um Riocore. Começamos a usar em comunicações nas redes sociais com o Forfun em um post ou outro, e logo depois já tinham festas com esse nome, bandas caracterizando-se como parte do segmento. Acabou que ficou”.
Ficou, mas não muito. Do mesmo modo que nem todos os artistas tomaram
conhecimento, ou se lembram, de que a façanha da expressão teria
vindo de Rodrigo,
não existe um consenso sobre
o que Rio tinha que os outros não tinham. Afinal, se não era exclusividade da geração
anos 2000 aderir a essa variação do Punk, menos
ainda da cidade.
O gênero emergia
também em outras regiões do Brasil, grandes ou pequenas, e essa tentativa de dar nome a uma cena local, em criar uma identificação particular, leva a outro questionamento: “Qual a diferença do Riocore para o ‘Sampa Core’ ou ‘Porto Alegre Core’, sabe?”. É a pergunta que sempre esteve na cabeça de Thiago Calviño, baterista da banda Asterisco Zero, e de amigos do meio. “A gente que estava lá desde o início não queria muito isso porque vira uma panela. Maneiro, ficou marcado como um movimento que rolou na época. Mas na verdade, quando você pensa em cena de bandas independentes, você não quer se distanciar das outras pessoas. Isso não é legal. O legal é tocar com todo mundo”.
No entanto, ele concorda que, em determinados pontos, é possível que não seja exatamente o mesmo tipo de som. Tomando por exemplo o NX Zero, de longe a maior banda paulista na época, talvez não combine tanto com o Forfun, mas com o próprio Asterisco Zero quem sabe exista um paralelo. A Fresno, grande expoente das bandas sulistas, provavelmente não conversa tão bem com o Dibob quanto o Cueio Limão, do Mato Grosso do Sul. De qualquer forma, a comparação com São Paulo é sempre mais forte. Existe um duelo histórico e cultural entre as metrópoles, algo que precede os músicos. Para Mateus Simões, 36 anos, baixista da banda Phone Trio, a divisão é mais ou menos assim: “São Paulo é urbano, cimento, concreto. Rio é sol, mar, areia”. Para ele a questão geográfica afeta muito, pois percebe que as cidades litorâneas tendem a lançar propostas mais alegres, “para cima”. “Mas em questão de público, a gente perde. A galera do Rio adora, se amarra, mas se for para a praia e ‘morgar’, eles não vão no show à noite, nem com ingresso comprado. Não é por gostar menos e sim por ter atividades diferentes. É outro ritmo. O público paulista é muito mais fiel”.
O Emoponto, que o baterista considera a banda mais paulista de origem carioca, não teve aqui seu maior público. Lá eles eram astros, na cidade natal chegaram a pedir para abrir shows algumas vezes. As causas podem ser desde o vestuário dos rapazes, predominante preto e nada colorido, até uma identificação musical própria do local. Mas essa é uma questão particular do grupo. Quando Daniel Ferro pensa no geral, percebe a própria falta de estrutura da cidade para fortalecer cenas de Rock, pois a maior dificuldade é encontrar lugares tão bons quanto dispõem os bairros paulistas. “Aqui no Rio era um puteiro em Copacabana que desativou e a cafetina de lá liberava para fazer show, que era o Casarão Amarelo. Tinha o Beco da Bohemia, meio que um bar desativado que a galera usava porque o cara de lá via que dava dinheiro e deixava. O Garage nunca foi point mesmo da galera porque não era bem localizado”.
Fora
todo esse debate, é imprescindível dizer que sem o advento da internet, nada ou
muito pouco teria acontecido. O circuito, em nível nacional,
foi construído de modo totalmente independente – mesmo que uma ou outra banda tivesse entrado no cast de uma gravadora
em
algum momento da carreira, foi apenas uma passagem. Nesse sentido, não tinha nada de incomum em comparação às cenas anteriores: produzir discos por conta própria, sem qualquer patrocínio para o que quer que fosse, e batalhar para vender o trabalho em shows ou conseguir parcerias em lojas especializadas no segmento relacionado, como as lojas de skate e surf no presente caso. O músico Lobão, no tempo em que decidiu seguir sem gravadora, usava de bancas de jornal para comercializar seus álbuns, feito inusitado e bem-sucedido. Ou seja, o meio artístico sempre encontrou uma maneira de “dar um jeito”, e seguir esse caminho não necessariamente se relacionava à qualidade, baixa ou alta, ou até mesmo uma escolha. Para alguns, era mais uma contingência. A única alternativa possível quando a rota convencional não deixava brechas.
Acontece que, nos anos 2000, o período era de transição. A indústria fonográfica passou a terceirizar seus serviços e já estava fragmentada em poucas grandes gravadoras e muitas pequenas e independentes, não raro mantidas como selos dos conglomerados, seus laboratórios de novas tendências. E se as implicações da pirataria deixavam empresários e artistas com a pulga atrás da orelha, a internet veio para mostrar que isso ainda não era nada. Com a chegada das plataformas digitais, dos sites e programas de download ou streaming, a distribuição das músicas ficou mais barata e de amplo alcance. Se trata dos primórdios do mp3.com, Napster, MySpace. Dessa forma, um usuário disponibilizava seu arquivo pessoal e um outro o adquiria, e este passava a um amigo, que depois transferia para um terceiro e continuamente nessa dinâmica até formar toda uma rede de compartilhamento, por computador ou celular – trocar arquivos através de ICQ, MSN e Bluetooth era uma moda.
Anos atrás, isso era uma grande novidade, sobretudo para a música. A
facilidade representou certa descentralização da produção musical, uma
subversão dos valores que indicava democratização da arte. As primeiras, então,
a se fazerem valer dessa transformação eram elas, as novas bandas de Hardcore e
Pop Punk. A banda Biquíni Cavadão, ao contrário, ainda que tenha sido pioneira entre seus contemporâneos a entrar nesse universo, fazia parte de um contexto diferente, de uma geração
anterior. Eles perceberam a necessidade em fazer essa passagem, mas seu público
tinha dificuldades em dialogar com o formato, não eram nativos como seus
sucessores. “Na nossa época, quando começamos a pensar em compor, foi quando
começou a aparecer para o mundo músicas
do mundo. Tivemos
acesso a certos
estilos musicais que não
tocavam na rádio aqui, de bandas bem jovens, com uma conceituação muito livre.
Foi quase que uma substituição daquela
música que dependia
de gravadora e que todo mundo tinha que ser muito bom porque a peneira era grande. Músicas
que, muito sinceramente, eram até mal tocadas. Tanto por eles quanto por nós. A internet globalizou um pouco e difundiu tudo de uma
forma que foi muito bom para a gente”, lembra o baixista Caio Correa, 31 anos, da banda Scracho.
Com este veículo, a distância do público se tornou ainda mais curta. Por intermédio das primeiras redes sociais, a interação atingia níveis desconhecidos. Mais uma vez é importante lembrar que hoje essa realidade é totalmente comum, mas naquele momento se vivia uma fase de experimentação. Antes do Facebook e do Orkut, as páginas mais movimentadas eram as do Fotolog. Por lá eram divulgadas agendas de shows, gravações, novidades, histórias de bastidores, textos, músicas, imagens, vídeos. A sensação de conhecer seus ídolos de perto, na intimidade, começava com esses protagonistas. Os próprios fãs se confundiam entre consumidores e produtores, pois publicavam seus registros de eventos em que estiveram e até suas versões de clipe com bonecos de palitinho ou fotos pessoais. O ambiente colaborativo característico do século 21 estava inaugurado.
Desde aquela época dos saraus, as bandas desse ciclo foram frequentemente qualificadas como “bandinha”, mesmo pelas pessoas que gostavam, possivelmente por toda esse histórico colegial com admiradores adolescentes. “Não acho que as pessoas que chamavam assim tivessem intenção de falar de forma pejorativa. Mas sem dúvida, para quem não conhece, para quem está de fora, é como se fosse uma coisa menor. NX Zero sem dúvida começou como uma bandinha. Toda banda começa pequena, tocando numa garagem, num estúdio ruim, e quando ela ganha credibilidade ela vai se tornando grande, isso é um processo natural”, opina Pedro Burgos, 31 anos, vocalista da banda Offline. Caio concorda, e acrescenta ainda que esse preconceito vinha de pessoas que não conheciam o trabalho deles, e que nem estavam interessadas em conhecer; era a crítica pela crítica. “Realmente, eu comecei a tocar com 14 anos, então a galera que pegar o meu primeiro disco vai ouvir uma banda de garotos de 14 anos. Mas aí chegou um momento em que eu tinha 28 e galera achava que era a mesma coisa. Então essa era a única taxação que me incomodava”.
Thiago Calviño também traz uma resposta na ponta da língua: “Depende de
quem vem a crítica, né? Aí as vezes alguém que está no Leblon, fumando charuto
e ‘nossa, isso não é cultura musical’. Isso não é cultura musical sua! Se você
for abrir uma padaria, sempre vai aparecer alguém falando
que o seu pão é ruim. Se você não acreditar que alguém vai lá comprar o seu produto todo dia, você não
vai vender pão. É mais ou menos isso”. Esse preconceito tentava se justificar na possível imaturidade dos integrantes. Jovens
demais, bobos demais.
Até poderia ser, de fato, já que no início atingiam a marca dos 18 anos
de idade. Daniel Ferro, no entanto, oferece outro ponto de vista. “Acho que o
mais certo é espontaneidade. O Rock é espontâneo em qualquer estilo que seja.
Você pega uma guitarra e não sabe tocar, só vê o cara
fazendo, aí tenta aprender sozinho. Baterista aprende tocando no sofá só com um par de baquetas, e se bobear nem tem baqueta. É espontâneo. Você quer fazer. E isso tem uma ‘tosquice’ que faz parte. E eu acho que era essa motivação, foi isso que cativou o público”.
*Texto construído a partir do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “Esse tal de Riocore: uma grande reportagem sobre o cenário Pop Punk e Hardcore carioca dos anos 2000”, apresentado em dezembro de 2018 à Universidade Veiga de Almeida.