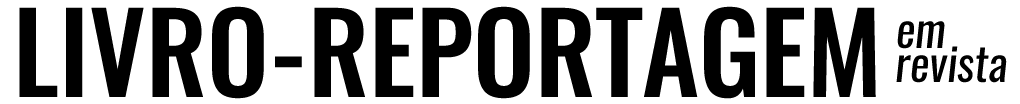A entrada do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania é um portão plúmbeo trancado por dois cadeados bem grandes. Durante o dia, ambos ficam abertos e só se abre o trinco para entrar. As grades empoeiradas pelo movimento da rua rangem ao serem empurradas, de modo que o barulho anuncia quem chega e aflige quem ouve.
Foi numa tarde de quarta-feira que ouvi aquele barulho pela vigésima vez no dia. Sem muita surpresa, pensei que seria alguém que chegava do almoço.
Meu espanto foi notar que quatro mulheres entravam timidamente e cochichavam em espanhol. No meio do grupo, uma risada de criança. Um menino bonito e grande se aninhava no colo da mãe, que vestia jeans e uma camiseta listrada com o rosto de uma cantora pop adolescente estampado.
Olhei de longe e quase não reconheci Domitila e Jeremy. Alguma coisa tinha mudado na cor das maçãs do rosto, no brilho dos olhos, antes fosco e pastel como tudo na prisão.
Domitila continuava tímida, como da primeira vez que a vi, falando baixinho. Jeremy havia crescido bastante para um bebê de apenas cinco meses. Havia, no entanto, uma mudança radiante e comum entre mãe e filho: sorriam.
Ela se lembrou de quando fui visitá-la na prisão e tentei entrevistá-la. Dessa vez disse que me contaria sua história, mas antes disso queria falar do futuro, que se desdobrava quase sem planejar e tão logo se encontrava com o presente. Será que a mãe sabia que ela estava livre?
“Quer dizer, prisão domiciliar é tipo estar livre, né?”
“Ah, não pode sair do abrigo?”
“Não pode trabalhar?“
“Não, não pode. Precisa aguentar, tá acabando”, avisei.
Por tantas vezes Domitila ouviu que “precisava aguentar”, poucas vezes essas palavras foram ditas com brandura.
“Dia onze de novembro vai faltar um ano pra acabar a sentença”.
As datas são sempre importantes quando o xis no fim do calendário significa a liberdade. Setembro já estava chegando, mas o céu ainda era de dezembro do ano passado: cinza.
Já fazia mais de um ano que Domitila estava presa quando numa sexta-feira nublada de primavera uma das agentes a surpreendeu enquanto ela dava banho em Jeremy.
“Você tem endereço aqui no Brasil?”
“Não…”
“É porque você vai embora.
“Mas eu não conheço ninguém”
“Vou colocar a rua da Casa de Acolhida então. Assina aqui.”
Depois de atravessar infinitas portas azuis até a escolta, ela passou pela Polícia Federal. Só depois disso foi para o abrigo. Assim que chegou, às 22h, foi guiada até sua cama. O quarto seria compartilhado com outra mulher, que já dormia quando Domitila chegou.
À primeira vista, trocar grades por portas feitas de madeira é como “sair de um ovo”, mas continua difícil se acostumar com outras pessoas. Kathy, a angolana que dorme na cama ao lado têm duas filhas, uma de sete anos e a outra de dois meses. Gritam, choram, falam muito alto. E falam em inglês.
A saída foi se juntar às outras bolivianas que vivem no mesmo abrigo. É bom se sentir um pouco mais em casa. As mesmas amigas que fez na Casa de Acolhida a acompanhavam na visita ao ITTC. Quando Jeremy chorava, elas, que eram três bolivianas e uma equatoriana, brincavam com o bebê e o acalmavam. Enquanto isso, Domitila finalmente me contaria sua história.
Entre fronteiras
Quando conheci Domitila, seu filho Jeremy havia acabado de tomar duas vacinas. As pernas, inchadas entre as dobrinhas de bebê recém nascido, não se ajeitavam no colo da mãe e ele desabava a chorar. Chorou tanto que não consegui conversar com a mãe naquele dia. “Na próxima semana eu volto…”
Nem precisei voltar. Lá estavam mãe e filho diante dos meus olhos incrédulos. Destino certeiro que a trouxe até mim. Dessa vez Jeremy chorava, mas era só fome. Domitila virou o filho, levantou a blu sa distorcendo o rosto perfeito da cantora pop e aproximou Jeremy do seio para que ele mamasse. Assim começou a história.
Há alguns anos, Domitila ia para a escola todos os dias. Não para estudar, isso ela havia deixado de fazer há muito tempo, no ensino fundamental. Mas todos os dias ela acordava, vestia seu uniforme e limpava os banheiros de um pequeno colégio no Chile.
A vida que tinha lá era difícil. As crianças a chamavam de “índia”, não gostavam da ideia de uma boliviana trabalhando no país delas. Era assim também com outras duas bolivianas que dividiam casa com Domitila.
A casa era simples, porém cara, como tudo no Chile. A ideia de ir para lá era ganhar dinheiro e ajudar a mãe e o marido, que ficaram em Cochabamba cuidando dos seus três meninos, mas Domitila logo percebeu que não conseguiria juntar muito dinheiro. As dívidas continuavam acumulando zeros no fim do mês.
A gota d’água caiu como um balde cheio de gelo na nuca de Domitila ao saber que a mãe estava doente. De volta à Bolívia a vida ficou ainda mais difícil com os filhos para criar e a mãe para cuidar.
O trabalho que arranjou como ajudante de cozinha pagava ainda pior que o de faxineira. Sem saber o que fazer com as insistentes ligações do banco, Domitila viu numa prima, de quem era muito próxima, uma chance de quitar as dívidas. Ela e Carmen haviam crescido juntas e continuaram próximas mesmo nesse ano que Domitila morou fora. Apesar da proximidade, ela pouco falava sobre como ganhava dinheiro, até o dia onze de novembro de dois mil e quatorze.
Decidiram que Domitila e a tia, mãe de Carmen, partiriam às 4h da manhã num ônibus em direção ao Brasil. Levavam cocaína em suas bagagens, mas naquele ponto ainda não sabiam qual era droga, nem quiseram abrir as malas. Tudo o que sabiam era que chegando aqui entregariam as malas a alguém, que as recepcionaria, e enfim receberiam o dinheiro.
Ao perceber que a fronteira se aproximava, Domitila não quis mais. Colocou a mão em sua barriga e pensou na família que estava ficando maior. Grávida de cinco meses, os filhos eram o motivo pelo qual precisava fazer aquilo, mas naquele momento também eram o motivo pelo qual não queria continuar.
Enquanto a tia dizia, “aguenta” e que tudo daria certo, o ônibus fez uma parada fora do cronograma na estrada que passa por Presidente Prudente. Tia e sobrinha estranharam mas tão rápido quanto disse “vai dar tudo certo”, deu tudo errado.
Dois policiais subiram no ônibus com armas na mão, encarando todos e todas em seus olhos assustados. Se aproximaram apressados, pisando duro, pararam na frente de Domitila e gritaram: “Cadê a outra?”
Não tinha outra, não tinha mais ninguém com elas. Nesse momento a consciência que de estavam realmente sozinhas pesou toneladas a mais que o único quilo de cocaína em sua bolsa.
Mesmo insistindo que havia mais alguém com elas, os policiais levaram apenas Domitila e a tia para a delegacia. Elas não puderam conversar enquanto estavam lá, muito menos se despedir. Quando a colocaram sozinha na escolta para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista sabia que nunca mais veria Carmen. A partir daquela hora seria só ela e o filho.
Dentro do ovo
Chegando em Tupi, Domitila começou a passar mal com frequência. Os enjôos matinais, que já estava acostumada a ter, pioraram, a comida era ruim e a solidão apertava os nós dentro da garganta.
Não adiantava pedir ajuda, ninguém lá falava espanhol. Muito menos se esforçavam no portunhol. Das mil e oitenta mulheres presas em Tupi, apenas cinco eram bolivianas. Quando Domitila conseguia alguma atenção das agentes, engolia o choro e pedia atendimento médico. As funcionárias, no entanto, pensavam que suas dores eram de droga engolida. Domitila dizia que estava “embarazada”, mas ninguém sabia o que isso significava. A droga que ela engoliu? Quis traficar, agora aguenta.
Não cessando as dores, finalmente a levaram para fazer exames. A médica dizia “você está grávida” e Domitila respondia “No, yo estoy embarazada”.
Demorou até que as duas entendessem que falavam a mesma coisa.
Depois de meses presa, cada vez mais triste, Domitila conseguiu ligar para o marido em Cochabamba. Ouvir sua voz deveria ter sido um alívio no meio daquele caos, mas, na verdade, as coisas só pioraram. Desde que ela fora presa, ele estava desempregado e não ajudava mais em casa. A mãe tinha piorado e já não podia mais cuidar dos filhos e por isso os tinha mandado para um abrigo. Ela e o marido nunca mais se falaram depois daquela ligação.
Quatro meses passaram arrastando as horas. Num dos dias, eram todos iguais, Domitila acordou às 6h da manhã com dores de contração. Chamou uma agente e as duas foram escoltadas para o hospital. Chegando lá, foram para um quarto onde uma mulher, também vinda de Tupi, tinha acabado de ter seu filho. Domitila pensou que logo seria ela ali. Chegar ali, no entanto, foi mais difícil do que ela poderia imaginar.
7:00
Eram 7h da manhã. Domitila e a gente esperavam o médico chegar para fazer o parto. Enquanto isso as contrações aumentavam.
7:30
Chegaram mais três guardas no quarto. Todos estavam armados, para o caso de Domitila tentar fugir enquanto o bebê não nascesse. Vigiavam cada respiração mais forte, cada espasmo de dor, cada gota de suor que caía de sua testa. Entre uma contração e outra expressam seu apoio à Domitila: Você não vale nada/Você achou que seria fácil?/Agora tem que aguentar/Você está em outro país/Ninguém mandou vir pra cá.
7:45
Uma enfermeira finalmente entrou no quarto.
Abriu espaço entre os guardas e parou na frente de Domitila. Mediu sua temperatura com a mão, agachou para ficar da altura da cadeira e perguntou onde estava o dinheiro da droga. A dor era tanta que Domitila nem conseguiu responder, mas nem que estivesse bem saberia o que dizer. A enfermeira continuou: “Você vai ter que pagar essa cirurgia. Cadê o dinheiro que você ganhou?
Sem resposta, levantou, virou as costas e foi embora dizendo “Estrangeira só vem dar trabalho”.
8:00
Um médico entrou no quarto onde estava Domitila, que começou a sangrar na cadeira em que estava sentada havia uma hora. Estavam presentes a agente carcerária, os três guardas e a brasileira que tinha acabado de dar à luz e dormia, alheia ao show de horrores que acontecia ali.
Esse novo médico, na verdade, tinha entrado no quarto errado. Logo saiu, mas não pode evitar o comentário: “Essas presas têm que sofrer mesmo”.
8:30
Domitila ainda sangrava. Olhava ao redor e sentia medo do ódio que via nos olhares das outras pessoas. Lentamente focava na tranquilidade da nova mãe ali deitada, provavelmente sonhando com sua criança. Depois passava a olhar para a agente, que fitava o chão com tédio. Encarava os três guardas, todos com a mesma cara, a mesma pose. E então começava de novo: a mãe, a agente, os guardas. A mãe, a agente, os guardas. A mãe, a agente, os guardas. A mãe. A agente. Os guardas. A mãe…
9:00
“Por que ninguém me ligou antes? Senhora, desde que hora você está sangrando?” “Por que não me ligaram antes?”
Novamente, a dor era tanta que Domitila não conseguia responder. Agora ela estava numa mesa de cirurgia e não via mais a mãe, a agente e nenhum dos guardas. Deitada, via apenas um médico preparando a anestesia.
“De onde você é?”
Mais baixo que o normal, Domitila respondeu: “Cochabamba”
“Eu já estive lá. É muito bonito!”
Por conta das complicações que teve antes do parto, Domitila ficou no hospital por três dias, no mesmo quarto onde ficou esperando ser atendida. Viu a mãe, acordada finalmente, com seu bebê indo embora.
Durante as setenta e duas horas, a mesma guarda ficou no sofá ao lado da cama, apenas olhando, ora para Domitila, ora para a porta, provavelmente desejando estar em qualquer outro lugar. Domitila não é muito de conversar, mas também não foi esforço algum para que a agente não trocasse uma palavra com ela.
O silêncio durou até ela voltar para Tupi. Ainda sentia muita dor, mas o único remédio que davam era paracetamol. “Aguenta, vai passar”, diziam. “Tá pensando que tá na Bolívia?”
Apesar disso, Domitila não estava mais sozinha.
Jeremy era um bom menino e uma pontinha de felicidade dentro da prisão. O problema de Tupi era que o bebê tinha que ficar na cela junto dela e das outras mulheres, que faziam muito barulho. A comida também não era lá essas coisas, muitas vezes ela passava o dia comendo pão e bebendo café.
Um mês e duas semanas depois que Jeremy nasceu, ela decidiu conversar com a assistente social da prisão para pedir transferência. Ficou sabendo que existia uma penitenciária em São Paulo com um pavilhão só para mães. E que havia outras bolivianas lá.
A funcionária disse que faria o pedido, mas que seria muito difícil conseguir escolta para ela e Jeremy. Depois de tanto tempo, difícil era um conceito relativo no vocabulário de Domitila.
Mais cinco meses e duas semanas de espera até chegar a resposta. Sem ter ninguém para se despedir, ela e Jeremy pegaram o bonde para a capital sem pensar duas vezes.
Chegando na Penitenciária Feminina da Capital, a vida mudou um pouco. Domitila continuava aca nhada, mas aos poucos começou a conversar com as outras mães. No pavilhão materno, pelo menos, as mulheres se ajudavam e não faziam tanto barulho.
Ainda na primeira semana, logo quando mãe e bebê começavam a se acostumar com os novos ares, Domitila foi chamada para conversar com a diretora. Como faziam as crianças da escola que trabalhava no Chile, em tempos tão distantes, ela foi até a sala da administração, do outro lado do presídio, o medo aumentando a cada passo.
Abriu a porta e viu a diretora sentada atrás de sua mesa. Notou que havia uma mulher sentada na frente dela, mas como estava de costas não conseguia dizer quem era. Alguns segundos depois, notou algo de familiar nela. Talvez no jeito de sentar, nos cabelos negros ou na postura introvertida. Carmen se virou e as duas começaram a chorar.
Pensaram que nunca mais se veriam de novo. Domitila descobriu que a tia tinha ido para a PFC desde o começo, quando foram presas em Presidente Prudente. O reencontro, entretanto, não se prolongou. Durou apenas aqueles cinco minutos na sala da diretora. Isso porque Domitila deveria permanecer com Jeremy na ala das mães, sem poder sair de lá, enquanto a tia ficava nos pavilhões das estrangeiras, seguindo a rotina à qual se acostumara desde que chegou, meses antes da sobrinha.
A mãe reconhece que a Penitenciária da capital foi melhor para o filho. Agora que está maiorzinho, tinha outras coisas para comer que Tupi não fornecia, como papinha, leite em pó, bolacha. Mesmo não sendo o indicado para bebês da idade dele, já é melhor que nada. Ainda tinha fralda, sabonete, lencinho… Melhor que aquilo só saindo de lá.
“A cadeia não tem futuro.”
Tia e sobrinha se cruzaram pela segunda e última vez na fatídica sexta-feira cinza, quando Domitila saía às pressas com Jeremy no colo, meio sem entender o que estava acontecendo. Apenas se despediram, dessa vez sem choro. Domitila abraçou a tia e disse baixinho: “Aguenta, vai dar tudo certo”. E torceu para que dessa vez desse mesmo.

Advertência
Os nomes das personagens foram alterados para preservar a identidade das mulheres. Os nomes escolhidos no lugar são homenagens a três das cinco mulheres que derrubaram a ditadura militar na Bolívia em 1978. Entre elas, Domitila Barrios de Chungara, que lutou durante muito tempo da sua vida pelos direitos das mulheres.
Crédito da imagem: Autora
Capítulo do livro “Nosotras“