Leia este capítulo ouvindo o EP “O Fim da Linha Não É o Bastante”, do République Du Salém
O horário havia sido combinado às dez da noite. Duas horas antes do fim do dia. Por que essas reflexões óbvias passavam pela minha cabeça? Talvez porque estava no rumo que me levaria a encontrar um rockstar. Poderia não ser o mais famoso ou o que tivesse mais jatinhos e anéis de platina, mas sua aura vista de longe era o puro creme da essência que andava em falta hoje em dia.
O frio que se fazia presente era daqueles de filme de terror. Quando a neblina paira sobre o asfalto e os lábios ficam roxos. Quando sentar no vaso sanitário torna-se um martírio. Era um pouco embaraçoso chegar ao meu destino vestido de moletom (que frequentemente também eram usados como pijamas), mas eu já tinha alguns cabelos brancos para que me importasse demais com isso. Parecia que o destino não chegava nunca, parecia que estávamos perdidos. Morador da zona norte de São Paulo, não fazia ideia de que a zona norte ia tão mais ao norte, e só depois de infinitas curvas e paisagens que poderiam muito bem servir de cenários para encenar uma cidade fantasma, deparei-me enfim com o lugar. Era o único ponto em que havia vida humana em um raio de cinco quilômetros. Bastante vida, por sinal.
O Bar do Velhas Virgens era modesto, porém animado. E dava para ver que as pessoas que ali estavam eram frequentadores fiéis. Mesinhas de madeira com cadeiras portáteis espalhavam-se pelo salão de piso quase impecavelmente encerado. À esquerda uma estante de madeira sem verniz, com lâmpadas amarelas que colocavam em evidência garrafas e mais garrafas de cervejas artesanais, e acima dela, pôsteres, canecas e souvenires espalhados. À direita o balcão, onde a matéria-prima da casa era tirada, abaixo de uma pequena lousa com os valores do néctar noturno. O líquido apresentava-se em muitas formas e cores, e encantei-me com um copo de cerveja vermelha, bem transparente, borbulhando espuma, acompanhado de outra, dessa vez amarela escura e espessa, ambas escorrendo seu gelo e despertando vontades que deveriam ser reprimidas naquele momento. O balcão era simples e até um tanto mal-acabado, mas o rapaz que o dominava parecia estar em casa, e seu sorriso ao tirar cada bebida confirmava a suspeita. Ao fundo uma geladeira recheada de néctar (para variar) e, escondido em um canto remoto, um computador de onde eram decididas as músicas que tocariam pelo recinto. Quem comandava o mouse e brincava de DJ era um senhor de cabelos grisalhos, batendo o pé e ocultando o rosto, vidrado na tela que o entorpecia. Falamos com o rapaz sorridente do balcão sobre qual era nosso propósito ali. “Só um minuto, gente”, respondeu, mais simpático impossível. “Vou avisar o Paulão”.
Ele foi até o senhor de cabelos brancos e cochichou algo em seu ouvido, que mal balançou a cabeça e sequer deu alguma importância à nossa presença. Ele estava hipnotizado, em um transe único, recluso em seu próprio espiral. Ou talvez estivesse apenas nos punindo pelo atraso com um delay ainda maior. Ele não permitia que nenhuma música tocasse até o fim. Parecia impaciente, ansioso para mostrar um amplo repertório musical aos seus clientes. O ambiente foi invadido por Elvis Presley, e nesse momento Paulão de Carvalho revelou sua face mística quando se virou para dançar. Possuía um semblante de moleque brincalhão, um jeito de quem bagunça tudo e depois não fica para limpar. Seu cabelo era de um brilhante como a platina dos anéis dos rockstars, e seu topete era invejável e milimetricamente penteado (roubando toda a atenção de sua calvície traseira), acompanhado de um cavanhaque longo e propositalmente desgrenhado. Seus olhos eram distantes e o sorriso era como um barco à deriva: ia e vinha com o movimento do mar, no caso a música. Vestia uma jaqueta de couro semiaberta. Não havia mais ninguém de moletom por ali.
Na última mesa, perto da cabine do DJ sentavam-se duas moças, uma delas com uma criança pequena no colo, que estava bastante agitada para aquele horário, e, por um momento, Paulão parecia um Papai Noel motoqueiro, quando pegou as pequenas mãos da garotinha e dançou com ela, rodopiando e a fazendo rir. Nem de longe parecia o sujeito que tocava uma música que se chamava A Boca, a Boceta e a Bunda. Nisso, o rapaz do balcão deu outro sorriso, dessa vez um pouco constrangido, e disse baixinho “Vou avisar de novo antes que ele fique bêbado”. Paulão então passou a mão no cabelo branco, tomou um grande gole de sua cerveja e, um tanto contrariado, nos chamou para seu escritório nos fundos. Coca e eu nos entreolhamos e entramos, sem a certeza do que nos esperava: se o homem rude e de palavras chulas das músicas ou se o terno Papai Noel de poucos minutos atrás. Em alguns minutos, ele se revelaria nenhum dos dois.
“Acho que essa vai demorar”, Coca sussurrou.
“Vai ser exatamente o contrário”, rebati. “Ele quer voltar o quanto antes para os braços da cerveja”.
A voz rouca e ríspida de Paulão de Carvalho cortou o ar da saleta, que era um universo paralelo ao qual acabávamos de deixar. As paredes brancas opacas, sem um adereço sequer; as prateleiras de metal; a mesa cinza comprida; as cadeiras de espuma pretas, sem braços, lembravam mais um almoxarifado. O Paulão do escritório também era um eco do sujeito que perambulava pelo bar. Minha imaginação acreditava que o boêmio fanfarrão ainda estava lá fora enquanto o austero senhor acomodava-se à minha frente. Apoiou os cotovelos e lançou um olhar que dizia vamos logo com isso. E entendi logo o recado.
Ele provava cada vez mais seu status de roqueiro nato, avesso a entrevistas e quase sempre deixando escapar um “Ééééé”, oscilando sua voz áspera e coçando a cabeça, como quando indagado se havia conduzido o Velhas Virgens aonde queria. Ele conta que, um trabalho, quando feito em grupo, é impossível de ser conduzido sozinho. Mas Paulão não conquistou o que almejara a princípio, pois não conseguiu transformar a banda em seu meio de vida. Influenciaram muita gente; são referência para inúmeras bandas novas; lançaram 15 discos; rodaram por várias estradas, mas não foi possível tornar o Velhas seu principal meio de sobrevivência. “Mesmo quando se está na grande mídia”, argumenta, “mesmo quando se é muito popular, tem fases que a coisa simplesmente não rola”, ergue a sobrancelha. “Não cheguei aonde queria, mas fui mais longe do que esperava”.
Paulão acredita que é muito difícil viver confortavelmente do Rock atualmente, por questões objetivas e práticas. Existem muitas músicas populares mais fortes do que o Rock no Brasil. O Funk e o Sertanejo, principalmente, têm maior abrangência e, consequentemente, mais rentabilidade. Os ritmos regionais do Sul e do Nordeste, como o Forró, por exemplo, também trazem mais estabilidade e retorno. Ele comenta que na Argentina não há tamanha diversidade musical, com o Pop e o Rock ocupando mais espaço. Isso pode-se dever ao fato da linguagem do Rock’n’Roll ser mais comum em outros países. “O Brasil é muito musical”, diz. “Não tô dizendo que gosto ou desgosto da música brasileira, tô dizendo que, no Brasil, tocar Rock é uma tarefa difícil”. Houve uma época em que deu certo, segundo ele. “Nos anos 80 virou uma coisa vendável pras rádios e gravadoras. Tinha gente que botava muito dinheiro e a grana rodava”. Paulão, porém, não tem a pretensão de discutir a qualidade do som que se fazia nos anos 70 ou 80, comparada com o de hoje, mas o fato é que o Brasil tem muitas expressões musicais concorrendo com o Rock, e o espaço que sobra é pequeno. “Aí é guerrilha”, contempla.
A nostalgia do Rock oitentista permanece na atmosfera da sala, mas Paulão trata de esmagá-la com uma marreta de ferro e despejar suas migalhas pelos cantos empoeirados da sala, batendo novamente na tecla capitalista. “Teve força porque dava dinheiro”, dá de ombros, e eu começava a enxergar seu brilho apagar-se pouco a pouco, revelando certa descrença. Ele diz que qualquer produto que roda demais na mídia passa a ser tratado como Pop, independentemente de ser ou não. “Depois que eles souberam que era possível ganhar dinheiro com o Rock, resolveram ganhar dinheiro com tudo”, balança as mãos. Eu adorava como ele usava a palavra “eles”, como se fossem o inimigo a ser combatido, tal qual o Grande Irmão. “Descobriram que podia ser Lambada, depois Forró, e assim vai. Basicamente, eles começaram a investir no que tinha mais gente querendo consumir”. Paulão encara as gravadoras como uma indústria e a música como um mero produto. Se o que rende mais grana é sabonete, se produz sabonete; se for escova de dentes, se produz escova de dentes. “Acho que sabonete e música são coisas diferentes, mas para eles não”.
O Papai Noel de jaqueta de couro não bota muita fé para que o Rock’n’Roll recupere o mesmo espaço que ocupava três décadas atrás pois é mais fácil produzir outras coisas. “Hoje os caras vão misturando o Sertanejo com o tal do Arrocha…”, talvez Paulão fosse parar um minuto para aplacar uma síncope, mas isso não aconteceu. “O resultado é um produto que eu posso gostar ou não, e no caso eu não gosto”, dispara. “É um produto Pop, nada tem a ver com a raiz sertaneja porra nenhuma. É a mesma coisa com o Funk carioca, o pagode e o caralho”.
Mas, para nosso entrevistado, o Rock está hibernando no mundo inteiro. Talvez um grande movimento traga algum novo Kurt Cobain, um Guns’n’Roses reapareça. “Geralmente quando algo atinge o fundo do poço a tendência é voltar a subir. “O Grunge fez um pouco isso”, Paulão comenta. “O Rock estava agonizando e ali foi parcialmente recuperado. O Guns resgatou um pouco do Rock Clássico…” Ele afirma que, se fora do Brasil surgir uma nova cena que se torne vendável, talvez parte do mercado nacional volte a olhar para o Rock, pois o Brasil adora correr atrás do que acontece na gringa. “Mas na verdade você não tem que esperar o mercado te ajudar”, franze a testa. “Pau no cu do mercado, quer tocar Rock’n’Roll vá e toque. Não consegue viver só disso? Monte uma barraquinha de pastel ou trabalhe no SBT”, termina esboçando um sorriso malicioso.
Era curioso como Paulão nunca me deixava terminar uma pergunta até o fim. Mas até que fazia sentido. Como ele daria moral para um jovem vestido de pijama, cabelo lambido para o lado e um par de óculos que transformavam qualquer um em sósia de Harry Potter? E, se ele não deixava nem mesmo Elvis cantar até o fim, quem diria minha voz falar?
“Éééééé, tentaram matar o Rock’n’Roll muitas vezes”, diz, “mas o Rock’n’Roll tem a ver com uma energia que a gente põe pra fora principalmente na adolescência, tem a ver com criança pra caramba”, alegra-se. Você bota uma criança pra ouvir Chuck Berry e ela começa a se agitar. É uma essência que tem a ver com a rebeldia humana. Não vai acabar nunca, mas eventualmente pode ficar na sombra”. Era contagiante como quase sempre ele usava a palavra Rock’n’Roll, ao invés de simplesmente Rock. Sua devoção era demonstrada por atitudes carinhosas. A música era seu bibelô mais precioso. Começamos a divagar sobre como nenhuma banda de Rock, nacional ou internacional, a partir do novo milênio, consegue lotar um estádio. “Até antes disso”, rebate Paulão. “A última coisa especial do Rock’n’Roll foi o Grunge, depois foram apenas os desdobramentos”, continua. “O Jack White é um cara diferenciado, e as coisas que ele faz também, mas não é um movimento”, suspira. “O Grunge não era bem um movimento, mas haviam muitas bandas que coincidiam em suas atitudes”.
É um fato para se sofrer, ser fã de Rock Clássico e não conseguir citar uma banda ícone de nossa geração. Paulão concorda. “Tem bandas e caras legais. Cake é legal, Beck é legal, mas nada tem a ver com Deep Purple, Rolling Stones e Beatles”. Eu amava cake e já tinha provado beck algumas vezes, mas nenhuma dessas duas coisas eram artistas musicais. “Beatles é uma banda Pop, na verdade”, reflete, “mas a qualidade do som dos caras é muito sedutora”. Mas para ele não podemos ficar nessa nostalgia chula de que antigamente que era melhor, agora é tudo uma porcaria. Existem coisas ótimas com uma abordagem diferente. No caso de Paulão seu negócio era guitarra, porrada, agressividade. E não há muito disso no Rock underground, ou, ele assume, que talvez não tenha tanta paciência para caçar coisas novas no submundo do gênero. Ele ainda chega à conclusão de que, no underground, o Rock está em seu habitat perfeito: todo mundo corta o cabelo do jeito que quiser, fala a putaria que bem entender e assim em se convive, permanecendo esgueirado na trincheira da guerra. “Não se faz uma arte para dar certo; se faz porque precisa se fazer, se expressar”.
Isso me remeteu a outra questão: será que o sucesso do Velhas Virgens se dava justamente por não figurar no mainstream? Na opinião do entrevistado, primeiramente deveríamos discutir a palavra sucesso. “Sucesso é dinheiro? Não temos”, dá de ombros. “Sucesso é ser conhecido por um monte de gente? Temos algum. É fazer o que gosta e lutar contra todos esses movimentos popularescos? Conseguimos”, apoia-se na mesa um tanto orgulhoso. “Sucesso é ser influência para bastante pessoas? Temos bastante. No meu ponto de vista somos muito bem sucedidos, mas na visão capitalista é outra história”, lamenta. “É dinheiro, é ostentação. Tudo se deu graças a nossa sinceridade. E somos sinceros porque ninguém nunca chegou no nosso ouvido e disse ‘tira um pouco da putaria que a gente coloca uma graninha na sua mão’”, sussurra. “Talvez tivéssemos aceitado, mas ninguém fez a proposta”, balança a cabeça. “Não adianta nada eu me oferecer a dar o cu se ninguém pedir”, diz um tanto enrolado, claramente arrependido da metáfora que escolhera. “Eu não vou oferecer meu cu, se é que você me entende”, explica.
Paulão recorreu a uma escola de música, pois não fazia ideia de como tocar nada. Ele considera o Velhas uma banda que tenta tocar Blues e Rock Clássico, porém é muito Punk no modo de fazê-lo. Isso passou a incorporar o estilo do grupo. E como cantam em português fica muito mais fácil comunicar-se com a molecada. Era perceptível seu apreço para com a molecada, como se fosse aquele tio que ensinava palavrões aos sobrinhos adolescentes. “É muito bom ouvir Guns’n’Roses, mas tem vezes que você não tem ideia do que eles estão falando”, argumenta. “Mesma coisa o Rap, não se entende porra nenhuma”. Nesse momento Paulão aparenta estar sofrendo um derrame, mas é simplesmente sua imitação de rapper. “Fizemos o que podíamos ter feito com o pouco que tínhamos”, diz como se fosse choramingar alguma lamúria. “Limitação técnica, até como músicos”, continua, “limitação por falarmos português, que não é a língua do Rock, limitação dentro da própria estrutura brasileira…”, nisso sua faceta muda e o que parecia ser um epitáfio torna-se um brinde orgulhoso. “E assim somos uma banda espontânea, honesta. As pessoas reconhecem isso, e é do caralho. Somos igual aquele seu amigo que não tem de um bom conselho pra dar, mas ele pelo menos tenta.”
Paulão crê que, nos dias de hoje, as pessoas não têm muita ideologia. Mas ideologia é algo inerente ao ser humano, ela está em todos, mesmo que inconscientemente. As pessoas têm ideologia, mas podem não chegar a consumi-la. Para Paulão o povo consome de tudo (e por um lado isso é bom, pois não fica agarrado a preconceitos bobos), mas é um tanto pentelho, porque “Querem te convidar para algo dizendo que Molejo e Ramones são a mesma coisa, e não são. Pode até ter alguma coisa legal no Molejo, mas não é a mesma coisa”, comenta ligeiramente alterado. “Eu consigo ouvir Zeca Pagodinho e achar foda, mas não vou dizer que é Rock. Ele tem algumas atitudes, assim como Adoniran Barbosa tinha, que me inspiram como roqueiro. Atitude Rock’n’Roll. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa”.
Paulão disserta que todos têm acesso à informação, mas que informação não é formação. “As pessoas falham quando confundem informação com capacidade de crítica”, diz. “Só ir no Google não resolve. Tem que ter relação com as coisas, saber ler as atitudes, os movimentos e as estéticas dentro de um contexto”. Nesse momento Paulão encarna um historiador e deixa-se empolgar. “Quando o Rock’n’Roll surgiu?”, indaga. Como de costume, sem esperar a resposta, completa: “Surgiu no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando uma geração inteira morreu e só sobraram as crianças e os velhos. Os jovens eram criados pelos avós, o que gerou um gap de discurso imenso, uma cisão enorme entre duas faixas etárias. E o Rock’n’Roll veio preencher esse vazio. Era coisa do diabo, hoje é vista como bosta de bunda mole”.
O Papai Noel cervejeiro acha que, o que é mais louco e agressivo hoje é o Rap, e o considera muito monótono. Usa essa palavra por referir-se a estar em um único tom. “Talvez eles tenham um bom discurso e eu que não entendo nada por conta da rapidez em inglês; mas o Rap nacional é muita desgraça, parece até programa sensacionalista da tarde”, explica. “Eu gosto de Rock’n’Roll, sou véio, né?”, finaliza, indicando que ia bater no peito em sua jaqueta da mesma maneira que os jogadores de futebol fazem ao comemorarem um gol.
Ao avaliar a cena roqueira, Paulão não consegue focar-se apenas em São Paulo, pois roda demais. “Temos muitas bandas de Rock’n’Roll, mas também muitas estéticas diferentes”, avalia. “Começou com o Rockabilly; depois o Rock’n’Roll; aí veio o psicodelismo; o progressivo; Punk Rock; Gótico; Pós-Punk, várias coisas. Hoje tudo isso está em paralelo”, conta. “Temos por aí bandas de Rockabilly; Trash Metal; banda que mistura Rap com Metal… Tudo correndo junto”. Mas para Paulão isso não é um movimento muito definido, e isso ocorre no mundo inteiro, mais intensamente e menos intensamente. Temos equipamentos melhores, músicos melhores e professores melhores. Pode-se aprender a tocar em uma videoaula com um guitarrista de escolha própria. Operacionalmente está tudo mais na mão, mas talvez falte um pouco de alma. “Nada substitui colocar o pé na areia”, ele diz, percebendo o quão cafona foi essa frase, deixando o resto arrastar-se lentamente, “podem te descrever de todos os jeitos possíveis, mas você só vai saber a sensação quando de fato colocar”.
Mas tudo é um processo de aprendizado, segundo nosso personagem. A internet botou tudo ao alcance de todos. Hoje em dia uma banda é montada e estoura daqui a 15 dias no mundo todo, e 20 dias depois ela desaparece e ninguém nunca mais ouve falar. É tudo muito rápido, precisa-se ajustar o discurso e pensar até onde se quer ir.
Quando pergunto se essas mudanças de plataforma (vinil, CD, streaming) contribuem para o Rock estar na sombra, Paulão responde dizendo que todo mundo está se adaptando a essas linguagens. O que contribui é o processo cíclico. “Estamos num planeta onde ainda caminham lendas como Pink Floyd, Black Sabbath e Led Zeppelin. Os caras são gigantes”, se ele tivesse lágrimas extras para desperdiçar, aquela seria a hora. “É difícil ter uma geração como essa, então nada mais natural do que dar uma caída até chegar no zero e recomeçar. Acho que tivemos mais do que merecíamos. Tivemos na sequência Chuck Berry, The Doors, Stones, The Who, etc.”
“É difícil imaginar que um dia…”, Coca ensaiou dizer, e, creio que se tivesse conseguido terminar a frase, ela seria ‘É difícil imaginar que um dia eles não estarão mais entre nós, né?’, e noto que essa era uma questão que realmente o atormentava à noite em seus pesadelos.
E Paulão continuava em seu discurso de metralhadora. “E depois teve U2, Smiths, e vários outros que dão para citar… O fato é que o Rock está hibernando. É possível que vocês… Talvez eu não veja mais uma nova onda de Rock”, lamenta, “ou talvez eu reencarne”, abre um ligeiro sorriso, demonstrando ali um desejo verdadeiro de alguém que tem muito medo da morte ou ama demais a vida.
Quando indagado se teria alguma banda paulistana nova para indicar, Paulão foge discretamente pela tangente, afirmando que o novo não é mais novo: quando se descobre algo aquilo já tem cinco ou seis anos. Antes o novo era quando o artista gravava. “Agora não tem mais essa. O cara grava na garagem, faz um clipe e solta na internet”, diz. “Tem umas bandas muito legais”, afirma, voltando para o ponto central da questão, “mas tem uma de uns amigos meus que tem uma onda… République Du Salém”, solta. “Fizeram dois discos, o primeiro em português e o segundo em inglês, com produção do Marc Ford do Black Crowe, nos Estados Unidos. Muito legal, estão numa puta batalha. Mas sei lá, banda boa é o que não falta”, porém dava-se a entender o contrário, tamanha a dificuldade de lembrar mais algum nome. “Minha memória é uma merda”, defende-se. “As pessoas se aproximam muito de mim para mostrar banda de Hard Rock tipo AC/DC com discurso de putaria. Umas são legais, outras são bem legais”, arregala os olhos, mostrando-se um fã incondicional de putaria, apesar dela ser relativa. “Tem um monte, não é problema de banda, é um problema do gênero. Onde é que toca Rock’n’Roll?”, questiona em tom inquisidor. “No Brasil, a última banda, que nem era de Rock’n’Roll, mas tinha uma atitude Rock’n’Roll, era a do Chorão, o Charlie Brown Jr… Que era uma banda de mídia pra caralho”, pondera. “Na Globo, abertura de novela e tal. O Chorão tinha a capacidade de falara para as pessoas. A galera idolatrava o cara e ele tinha um discurso muito pertinente da sua geração, e isso foi sumindo”, lamenta. “Hoje o que se ouve no rádio é um Pop Sertanejo. O pagode sumiu, já teve sua chance”, e na hora se contém para não soltar risadinhas cruéis. “É uma coisa meio estranha”.
Atento para o fato de muito do Funk também estar migrando para o Pop, e Paulão conta que considera o Funk muito pobre, e faz uma careta quando pronuncia a palavra. O Funk que Paulão conheceu e curtiu era um Funk dos anos 70, que vinha da Soul Music, citando James Brown e falhando ao confundir Earth, Rhythm and Fire com Earth, Wind and Fire, provando que sua memória realmente não era uma das melhores. Ele também dá crédito ao Kool and The Gang e KC and The Sunshine Band. “Grandes bandas, grandes sons, gente tocando pra caralho”. Nessa hora lembro de meu pai e como ele era obcecado por Bernard Edwards, baixista do Chic, e como ele fazia um air bass toda vez que escutava Everybody Dance no meio da sala, e depois se lamentava pela morte do instrumentista. “O Funk carioca é um filho do Miami Bass (ritmo popular em parte dos Estados Unidos e América Latina na década de 70 e 80, cujas batidas contínuas evocavam mais a habilidade de DJ’s em manipular sons do que instrumentos e melodias), um degrauzinho bunda” (eu ainda quebro a cabeça para tentar desvendar o que significa essa expressão), e sem nenhum aviso Paulão começa a bater o pé a contorcer o rosto na sua composição do que seria um Funk, cujas palavras eram simplesmente “QUÉCURÉCUQUÉCURÉCUQUÉ”. Por um momento pensei que ele fosse bater as asas e ciscar pelo escritório, mas ele recobra a postura em alguns segundos que parecem infinitos. “É igual a uma criança com cinco anos de idade cantando”, diz com certo rancor. “Aí tem toda uma expressão da comunidade, mas sei lá”, pigarreia, “a mim não convence, mas algumas pessoas gostam. O Raul dizia que ‘é preciso cultura pra cuspir na estrutura’. Eu acho a maioria desses discursos de Funk subcultura. Pra mim é bosta”, completa. Me deixava um tanto cabreiro o motivo de Paulão desprezar tanto o Funk, sendo que, mesmo os mais esdrúxulos tinham letras com teor semelhante as do Velhas Virgens. Por que o fato de ter uma guitarra elevava o conceito de um disco cujo título era “Vocês Não Fazem Ideia de Como É Bom Aqui Dentro”, em uma alusão explícita à vagina vista meramente como um objeto?
Comento que há algum tempo levava-se um ou dois anos, às vezes até mais, para se trabalhar um disco, montar e executar o conceito de um álbum, e, atualmente, se o artista não lança uma música nova a cada três meses no máximo, ele está fora do mercado, ao que Paulão me interrompe com um golpe seco: “Não tem mais álbum. Não precisa ter”. Rebato se é porque o público não tem mais paciência de esperar uma produção ser desenvolvida, e ele replica dizendo que é porque as regras mudaram. “Se pegarmos um disco do YES, é um disco duplo com quatro músicas. A capa era conceitual, tudo era conceitual, mas isso mudou. A facilidade fez com que, ao invés do pessoal aprender a tocar uma porra de uma guitarra ou teclado, fosse ser DJ”, argumenta. “Na minha opinião, a grande virtude do DJ é conhecer, ter repertório. É o que eu estava fazendo ali fora”, diz. “Não que eu seja um grande DJ, mas eu fico encadeando as músicas. Penso ‘depois dessa vou colocar essa, depois essa e tal. É mais importante do que fazer firula. As ferramentas ficaram tão simples que agora todo mundo quer ser músico, mas nada supera o talento”.
Quando perguntado como foi para ele lidar com a chegada da internet, Paulão conta que quem sempre esteve por dentro de novas linguagens foi o Cavalo, co-fundador do Velhas Virgens. Intrigante como alguém com o apelido de Cavalo, que normalmente remeteria a alguém selvagem fosse o mais chegado em novas tecnologias. Paulão conta que em 1997 ou 1998, Cavalo começou a mexer na Web e abriu o primeiro site da banda, com a internet ainda discada, e antes disso já trabalhava com uma caixa postal para que se comunicassem com os fãs. Para Paulão foi sempre muito complicado, pois é um sujeito muito preguiçoso. “Ah, vai tomar no cu essa porra de Spotify, agora que estou descobrindo como mexer nessa merda. Quando descobri que os negócios aparecem e você vai botando as músicas adorei”.
“Uma coisa que nunca vai ser substituída é subir no palco e tocar”, fala com brilho nos olhos, “e é nisso que eu invisto: na minha performance, no modo que sinto como as coisas estão acontecendo ao meu redor, e transformo isso em música”, empolga-se. “Mais divertidas; menos divertidas; falando de putaria; falando de boemia; seja lá o que for. O Cavalo sempre foi o que pensou nessa coisa de ‘como chegamos nas pessoas, já que somos independentes?’”, começa a tossir. Nesse momento tive quase certeza de que ele encerraria nossa entrevista, mas ele recomeça: “Eu me relaciono com a internet porque é um jeito de interagir com os fãs, trocar ideia, mas… Eu acho bem chato. Não falar com os fãs”, explica-se, “mas esse negócio de estar conectado o tempo todo ‘Olha estou aqui fazendo isso’”, e faz uma alusão à mania avassaladora das selfies e da autoexposição, e como os artistas da atualidade estão mais cobiçados para figurar entre os cliques do Instagram de um fã do que pela sua própria música. Coisa essa que faríamos dali a poucos minutos quando batêssemos uma foto para relembrar de um encontro com o roqueiro boca-suja e beberrão, que no fundo tinha uma consciência muito lúcida sobre seu papel como pessoa e músico, por mais que tentasse esconder esse lado centrado atrás de uma faceta pueril e irresponsável. “Prefiro viver a vida do que fotografá-la”, disse almejando um sorriso, nos guiando para fora do escritório de volta ao bar, e então posou para a foto irreverente, como se compreendesse a ironia da coisa. “Não cheguei aonde eu queria, mas fui mais longe do que esperava”, repetiu, como se soltasse um enigma nos encorajando a ter esperanças de seguir com nossos sonhos aparentemente impossíveis. E então pôs-se a dançar novamente e a bebericar uma nova cerveja, que com certeza ele salivara durante toda nossa conversa para ter em suas mãos novamente.
Talvez eu precisasse de muito mais cabelos brancos e muitos quilômetros de asfalto para compreender certas coisas que só Paulão de Carvalho poderia dizer com a maior naturalidade, sem perder a pose. Ele alegrou-se pelo salão com a serenidade de quem sabe que está vivenciando o apocalipse, mas que se conforma e aproveita os últimos minutos de vida como se fossem infinitos, e aceita a efemeridade dos momentos, deixando-os passar sem remorso.
Coca me convidou para uma cerveja naquele mesmo bar, mas recusei. Eu precisava desesperadamente me livrar daquele pijama. E o Rock precisava desesperadamente de um novo lugar ao Sol.

Crédito da imagem: Domínio Público
Capítulo do livro “Rock N’ Roll na Terra da Garoa — de volta ao porão?“
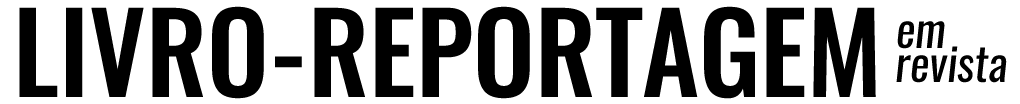






Não concordo exatamente com sua interpretação do que tentei expressar…Mas vc(s) tem estilo e sabe(m) escrever… Verdades, mentiras…Pouco importa… O texto é bom… Hail