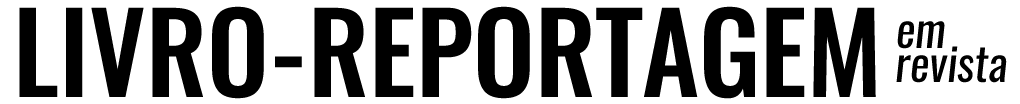Apresentação
Heróis ou coitados. É assim que, na maioria das vezes, a mídia retrata pessoas com deficiência que apenas… vivem — de um jeito diferente, mas vivem.
É assim também com pessoas com paralisia cerebral, que já foi descrita por um repórter como sendo uma doença grave.
O rótulo de “exemplo de superação”, dado muitas vezes pela grande mídia a muitas pessoas não só com a paralisia, mas a deficientes em geral, cansa e não ajuda em nada.
Cansa pois a pessoa com deficiência é, antes de qualquer rótulo, antes de qualquer condição física, uma pessoa.
E não ajuda pois a sociedade vê essas pessoas com uma admiração muitas vezes desnecessária mas, mesmo assim, não as incluem, não as tratam como iguais. A grande mídia, que por muitas vezes aborda a deficiência de forma superficial e muitas vezes sensacionalista, tem uma grande parcela de culpa nisso tudo.
É contra tudo isso que escrevi esse livro, que contei quatro histórias de pessoas que têm a mesma lesão mas são diferentes umas das outras – seja pela locomoção ou pela forma como falam.
***
Eu faço parte dos mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil. Ou melhor: faço parte, mas não sinto que faço.
Sim, eu tenho uma deficiência física que é sequela de encefalopatia crônica não-progressiva, ou, em termos mais simples: paralisia cerebral.
Ao contrário do que pode parecer por causa do nome, o cérebro afetado não fica paralisado. Ele sofre uma lesão, que por ser crônica e não-progressiva, não cresce, não diminui e não tem cura. Ou seja, a região afetada fica apenas lesionada. Ela apenas funciona de maneira prejudicada em relação a cérebros sem essa lesão.
No Brasil, estima-se que surjam entre 30 e 40 mil novos casos dessa paralisia por ano. Mas ao contrário de países como Portugal, não se sabe quantas pessoas com paralisia cerebral existem por aqui. Lá, por exemplo, são mais de 20 mil.
Mas sabe-se uma coisa: a paralisia cerebral faz com que as pessoas com essa lesão sejam muito diferentes umas das outras.
Meus 12 primeiros minutos de vida foram suficientes para me fazer diferente de muita gente. Nesse pequeno intervalo de tempo, eu fiquei sem oxigenação no cérebro, e o diagnóstico veio pouco tempo depois.
A paralisia cerebral é causada por uma lesão no cérebro em desenvolvimento – ou seja, desde a vida intrauterina até cerca de quatro anos de idade –, e não é só a falta de oxigenação que provoca isso.
Os fetos de gestantes com rubéola, toxoplasmose ou doença tireoidiana ou infecções agudas nos seis primeiros meses de gestação podem nascer com paralisia cerebral. O uso de álcool e drogas e traumas na região abdominal também podem provocar essa lesão no feto.
Complicações durante o parto também podem fazer com que o bebê tenha essa lesão. Partos prematuros – principalmente antes da vigésima oitava semana de gestação –, recém-nascidos com peso inferior a 500 gramas, falta de oxigenação e acidente vascular cerebral isquêmico – falta de sangue em uma área do cérebro devido a obstrução de uma artéria – são os principais fatores de risco para essa lesão durante o parto.
Depois do parto, ainda há riscos de se sofrer uma lesão e ter paralisia cerebral. Nessa fase, a maioria das ocorrências podem ser evitadas, pois as causas mais comuns são infecções no sistema nervoso central – como meningite e encefalite –, convulsões e acidentes cerebrovasculares, muitas vezes causados por traumas, podem levar à paralisia cerebral. A criança tem riscos de ter essa lesão até por volta dos quatro anos. A partir dessa idade, o cérebro já está mais desenvolvido, e fica menos vulnerável a lesões permanentes.
***
Por causa daqueles 12 minutos, minha vida não é igual à vida de muita gente. Desde meu primeiro ano de vida, faço fisioterapia e algumas outras terapias. Isso, pra mim, é encarado da maneira natural. Faz parte da minha rotina.
Quando eu era pequena, minha rotina era baseada em terapias. Durante uma época da minha infância, eu fazia fisioterapia desde de manhã até a tarde, de segunda a sexta-feira. Minha mãe me levava de casa, na região do Morumbi, até a Vila Mariana, onde fica a clínica. Depois que eu entrei para a primeira série, passei a fazer menos tempo de terapia por dia – e foi assim por um bom tempo.
Já fiz terapias não tão convencionais também. Uma delas era a câmara hiperbárica, que lembra grosso modo uma roupa de astronauta. Eu entrava nela, ficava deitada, e ela era fechada, vedada. O oxigênio que eu respirava entrava na câmara por um comando de uma profissional. A sessão durava cerca de uma hora, se bem me lembro. Diziam que era bom para melhorar a oxigenação do cérebro. Por isso, fiz quando tinha uns dois anos e depois com uns sete. Os efeitos eu não vi. Depois de um tempo, meu ortopedista disse que essa terapia não promove uma oxigenação suficiente para melhorar as sequelas da Paralisia Cerebral.
Quando eu tinha cerca de sete anos, comecei a fazer equoterapia. Sobre o cavalo, eram feitos exercícios para melhorar principalmente a minha postura. Fiz essa terapia durante um tempo, até que me acidentei: o cavalo no qual eu estava montada se assustou – não me lembro com o que – e empinou. Eu perdi o equilíbrio e fui praticamente lançada para o chão.
Depois disso, passei a não querer mais montar em cima de um cavalo. Fui montar 12 anos depois, em uma feira de reabilitação e lá havia uma área com cavalos, para que os visitantes que quisessem, montassem nos animais e andassem um pouco.
***
Outra coisa que encaro tranquilamente são cirurgias. Já operei as pernas, os braços e até a boca. No caso das pernas, elas já foram operadas duas vezes. Meus braços, uma. Apesar de a pessoa com paralisia cerebral tender a manter um padrão para andar, mexer os braços e, dependendo do caso, para falar, cirurgias às vezes são necessárias para garantir uma melhor qualidade de vida.
Minha primeira cirurgia foi no ano em que o Brasil conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo. Tenho poucas lembranças dessa época, mas sei que essa cirurgia foi um avanço na minha vida. Depois de mais de um mês com as pernas engessadas e mais um período intenso de fisioterapia, passei a conseguir sentar e reaprendi a andar – dessa vez, com mais equilíbrio.
Depois disso, minha vida continuou quase como a de uma criança “normal”: aos sete anos, fui para a primeira série. Me lembro de que eu não andava com bengala, muleta ou andador, mas sempre alguém me dava a mão.
Minha classe, me lembro, tinha crianças também com deficiências, mas diferentes da minha. O que não esqueço é que, para chegar a uma sala de aula, não foi fácil. E as barreiras eram mais graves que uma escada.
Quando eu estava na idade de ingressar no Ensino Fundamental, minha mãe começou a procurar uma escola que me aceitasse. Isso pode parecer absurdo, mas para quem tem uma deficiência, não é.
Em uma escola, fiz uma prova, que era aplicada a qualquer aluno que fosse estudar lá. A prova feita, o resultado foi bom, mas eu não estava apta a estudar naquela escola pois, de acordo com a diretora, eu era lenta.
A “solução” para que eu não perdesse um ano foi eu ir para uma escola com algumas salas “especiais”, que misturava alunos com diferentes necessidades.
Fiquei lá durante dois anos. O que eu queria, mesmo, era estudar em uma escola “normal” que ficava perto de casa. Minha mãe, apesar de ter medo de ouvir outro “não”, marcou uma entrevista com a diretora. Depois disso, fiz uma prova e consegui entrar. Entre idas e vindas, me formei naquele colégio, onde também fiz amigos para a vida toda, com os quais ainda mantenho contato.
Durante toda essa fase, eu andava sempre com o auxílio de algum amigo. Apesar de falar com uma leve dificuldade, praticamente todos me entendem.
Passada a época do colégio, outra cirurgia estava prevista. Era a segunda vez que eu operaria as pernas – e a estreia dos braços. Tudo de uma vez só. No penúltimo dia de junho de 2007, me internei no hospital e, no dia 30 de manhã, fui para o centro cirúrgico.
Dez horas depois, eu estava com os dois braços engessados – desde perto do ombro até as pontas dos dedos, com os cotovelos dobrados a 90 graus – e com talas para manter as duas pernas esticadas – e ficaria assim durante um mês.
Fiquei com as talas nas pernas por cerca de duas semanas. Os braços ficaram engessados por um mês.
Depois desse período, as terapias foram intensas. E tudo para reaprender a desde pegar um simples objeto até andar. O medo de colocar os pés no chão era grande. A fraqueza também. Pegar um copo, segurar um talher eram verdadeiros desafios – que aos poucos voltaram a ser rotineiros. Todos os dias eu ia a um centro de reabilitação, e foi assim até meados de 2008, quando passei a fazer fisioterapia e terapia ocupacional em casa.
(No momento em que escrevo este livro, me preparo para minha terceira cirurgia nas pernas. Dessa vez, encaro como uma grande esperança de mudança. Serão dois meses com as pernas imobilizadas e, depois disso, mais uma temporada intensa de fisioterapia. Tudo isso para garantir mais independência para mim – principalmente com relação a trabalho e também sobre quatro rodas).
Depois de ter ficado parada por um ano, em 2008 comecei um curso pré-vestibular. Lá, eu não era a única deficiente física, o que para mim era, de certa maneira, algo novo – e bom. Uma outra aluna, Tamires, também tinha uma deficiência, mas não sei qual. Hoje, ela já se formou na faculdade e dirige.
Isso ainda não é comum para a maioria das pessoas com deficiência no Brasil. A burocracia faz com que muita coisa demore. Ter um carro isento de impostos pode levar por volta de seis meses, por exemplo. E carro significa liberdade para quem tem uma deficiência, já que pegar um ônibus ou metrô é, muitas vezes, um verdadeiro desafio.
2013 foi a vez de operar a boca. Por duas vezes eu usei aparelho fixo, pois os dentes da maxila – a parte de cima da arcada dentária – eram muito para frente em relação à minha mandíbula – a parte de baixo, na região do queixo, e não a articulação que fica perto de cada ouvido, como eu também achava. Por duas vezes eu usei aparelho fixo, sendo que na primeira eu sequer sabia da possibilidade dessa cirurgia: a ortognática.
Em 2006, eu usava aparelho fixo, mas tive de tirá-lo devido a um inchaço nas gengivas, que sangravam facilmente. Um tempo depois, fui a um ortodontista para colocar novamente o aparelho. Já na primeira consulta, descobri que o que tornaria minha boca “normal” era… uma cirurgia: a ortognática. Como eu já estava com a cirurgia das pernas e dos braços programada, continuei sem aparelho e deixei a operação da boca para segundo plano.
Durante meu processo de reabilitação da cirurgia de 2007, eu fiz terapias por um tempo em uma clínica. Um dia, após uma sessão de hidroterapia, fiquei sabendo que uma fisioterapeuta havia feito a cirurgia ortognática, e que tinha ficado muito satisfeita. Ao contrário de mim, ela tinha a mandíbula projetada para frente.
Em meados de 2010, eu e meus pais conversamos e decidimos que já era a hora de pensar na cirurgia da boca. Fui a alguns cirurgiões buco-maxilo-faciais. Na consulta com o terceiro, vi uma simulação da cirurgia, bem como uma simulação de como eu ficaria. Aquilo me fascinou tanto que eu achei que já poderia pensar na cirurgia.
No ano seguinte, estava eu novamente com aparelho fixo. Mas dessa vez, eu sabia que todo o sofrimento do período inicial do aparelho fixo na boca valeria a pena. Foram dois anos indo mensalmente ao consultório do ortodontista, um trajeto por vezes cansativo devido ao típico trânsito caótico paulistano. Do Morumbi até Higienópolis, um trajeto de menos de 20 quilômetros, eu gastava cerca de uma hora e quinze minutos. As consultas eram rápidas. Alguns ajustes eram doloridos. Essas dores cessaram na noite do dia 11 de janeiro de 2013, quando eu acordei depois de ter operado.
Depois de mais ou menos quatro horas de cirurgia, acordo com o rosto inchado e com um pano enrolado com gelo na região do meu queixo. Uma espécie de esparadrapo largo estava colada também na região do queixo, para evitar que o inchaço “descesse”. No dia seguinte, a faixa foi retirada. O gelo me fez companhia por mais ou menos duas semanas. Também por esse temo, meu rosto inchou, ficou roxo e a sensibilidade na região do queixo mudou muito – e até hoje não voltou a ser como antes da cirurgia.
Meus amigos e familiares, quando me viam – mesmo inchada e com hematomas –, se espantavam: a mudança foi brutal. Até hoje rio quando me lembro da minha prima – à época com pouco mais de dois anos e meio – assustada com a minha ”nova versão”, não querendo se aproximar de mim. Eu encarei aquilo de maneira normal, afinal de um dia para o outro eu mudo totalmente: fico roxa e amarelada e ganho um rosto (provisoriamente) inchado. Em uma criança de dois anos isso naturalmente provoca espanto.
O tempo passou e tudo foi se normalizando. Desinchei; os hematomas desapareceram; minha refeição, baseada em sopas e papinhas, voltou a ser sólida; eu recuperei os três quilos perdidos e minha prima não me estranhou mais.
***
Lidar com a deficiência sempre foi algo normal para mim. Mas em 2008, isso melhorou. Descobri um blog mantido por Jairo Marques, jornalista de um grande jornal. Comecei a ler e fiz disso um hábito. Ler as histórias dele – cadeirante devido a sequelas de poliomielite – e de outras pessoas. Nos encontros do blog, isso era melhor ainda, pois melhor do que ler, eu tinha contato com a diversidade do “universo” da deficiência.
Pelo meu jeito de lidar com a paralisia cerebral, em 2013 escrevi sobre a minha lesão no blog do Jairo. O bacana foi, depois disso, ter contato com pessoas não só com deficiências em geral, mas com paralisia cerebral – e também com gente me pedindo ajuda para ajudar outras pessoas.
Quando eu disse que não sinto que faço parte das 45 milhões de pessoa com alguma deficiência, não é só por não ter a minha deficiência especificada no censo que o IBGE faz.
Aqui no Brasil, assim como em outros países, há a Lei de Cotas para incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Empresas precisam ter um percentual de funcionários com deficiência. Isso é bom.
O que não é bom é que, por terem que cumprir esse percentual, as empresas contratam deficientes muitas vezes para cargos de baixa complexidade. Não recrimino esses cargos, mas acho que as empresas deveriam valorizar a escolaridade de qualquer candidato.
Já aconteceu de me ligarem – nem uma, nem duas, mas várias vezes – oferecendo emprego. Os cargos oferecidos a mim geralmente eram relacionados à área administrativa, e até na área de telemarketing. Eu não aceitava essas propostas não só por eu querer algo melhor, mas pelo fato de não ser apta a falar muito ao telefone com desconhecidos.
Muitas pessoas entendem o que eu falo. Mas algumas não. Eu costumo dizer que quem me conhece me entende melhor porque já está com os ouvidos acostumados. Na primeira conversa com uma pessoa, pode ser que ela não entenda algumas coisas que eu digo. Isso é normal em quem tem paralisia cerebral.
Há quem, ao ver a forma como eu falo, relacione isso a déficit mental, e passe a falar comigo como seu eu fosse uma criança – há também quem fale alto comigo, achando que eu tenho dificuldade para ouvir. Algumas pessoas com paralisia cerebral falam com mais dificuldade, outras com menos – e há alguns casos de pessoas que não falam.
Recusar um emprego, para mim, não se deve apenas à minha fala. Eu, que tenho dificuldade de deslocamento – não tenho carro, meus pais trabalham o dia todo e não há condução no meu bairro –, tenho dificuldade de aceitar uma proposta, seja ela boa ou não.
Já cheguei a ir em entrevistas de emprego em empresas – grandes, inclusive –, mas tive de recusar vagas justamente por não ter como ir todos os dias ao trabalho.
Quando eu estava no sexto semestre da faculdade de Jornalismo, fiz algo que não gosto: pedi. Pedi um estágio para Denise, uma jornalista, dona de uma revista de circulação local no bairro do Morumbi. Eu não a conhecia, mas arrisquei, mesmo sabendo que a resposta poderia ser um “não”. Em um primeiro momento, o quadro de funcionários estava completo. Dois meses depois, surgiu uma oportunidade na mesma revista. Fui e voltei duas vezes.
O acesso era feito por escadas, o que não me impossibilitava de ir e vir, já que ando com o auxílio de uma bengala.
Durante o período em que trabalhei lá, percebi que conseguia desenvolver várias habilidades num ambiente profissional sem ser impedida pela minha deficiência, mas mais importante: percebi que eu poderia trabalhar da mesma maneira que uma pessoa sem deficiência.
Por essa fraqueza minha, não consegui conciliar o estágio com a faculdade. Eu, que tinha começado o projeto do meu TCC – que fiz sozinha –, comecei a não dar conta da faculdade. Por pura falta de organização, tive de sair do estágio.
TCC esse que me fez fazer este livro.
Eu estava desenvolvendo o projeto do meu trabalho de conclusão de curso sobre a volta do vinil no século XXI. Em uma aula, fiquei sabendo que uma aluna – que se formou um semestre antes de mim – estava desenvolvendo um TCC sobre o mesmo tema.
Não fui impedida de continuar, mas não queria fazer algo já feito por alguém em tão pouco tempo.
Passei a pensar em outro assunto, mas nada me vinha à cabeça. Até que, num domingo de eleições, eu resolvi fazer algo que não costumava fazer. Participo, no Facebook, de grupos cujo assunto principal são pessoas com paralisia cerebral. Muito raramente eu comentava alguma publicação.
Naquele dia, um homem pedia a indicação de uma fonoaudióloga. Recomendei uma que tinha me atendido por um bom tempo. Instantes depois, ele começou a conversar comigo por mensagens privadas.
A fono não era para ele, mas para uma menina que morava em Guarulhos. Depois de algumas outras frases trocadas, ele adicionou a mãe da menina no bate-papo. Em um determinado momento, comenta-se sobre locomoção. A garota, Thaís, que hoje mora em Minas Gerais, usava cadeira de rodas e a mãe não tinha carro. Comento que, apesar de usar bengala ao invés de cadeira, entendo a dificuldade de locomoção.
Isso despertou a curiosidade do Luiz, o homem que perguntou da fono.
– Ué! Você tem alguma coisa?
Respondi que tinha paralisia cerebral, mas que o grau da minha lesão não atrapalhava o meu andar.
Ultimamente, quando me fazem perguntas como essa, eu lido com bom humor. “Eu ainda não sei”, “Boa pergunta”, “Estão tentando descobrir”, etc.
***
A curiosidade é uma reação normal das pessoas em relação a algo diferente. Nas crianças, é totalmente comum. O que é difícil de aceitar é as respostas que alguns pais dão a elas. Algumas respostas têm uma dosa alta de preconceito e ignorância.
Certa vez, eu estava em um parque brincando. Uma criança me viu e perguntou à mãe o que eu tinha. A reposta dela?
– Não olha porque isso pega.
“Isso” era a minha deficiência, a maneira como eu andava à época. Eu era pequena, mas aquilo me marcou de tal maneira que a lembrança que eu tenho da situação é a de eu, com uns sete anos, andando com meu pai em um shopping e um garoto perguntar isso à mãe.
***
Com relação ao Luiz, sua reação me deixou pensativa. Se ele tinha essa dúvida, mais pessoas com certeza também têm. E, pra mim, a mídia tem sua parcela de culpa. Já vi matérias comentando que paralisia cerebral é uma doença grave, por exemplo.
Graves são as sequelas, que dependem do tipo e do grau da lesão.
Algumas pessoas não andam. Outras o fazem com um pouco de dificuldade. A dificuldade na fala também varia, sendo que algumas pessoas não falam – mas há, também, pessoas com paralisia cerebral que não têm dificuldade para falar. Tem gente que anda com facilidade, mas tem a fala bastante comprometida. Tem gente que não controla os movimentos.
Lesões de diferentes tamanhos em determinadas áreas do cérebro podem fazer com que as sequelas variem muito de caso para caso. Por isso, no “universo” da paralisia cerebral, as pessoas são muito diferentes. Além da minha história, mostrarei mais algumas, justamente para isso – e para provar que o cérebro dessas pessoas não é nem um pouco paralisado.
***
O ano era 2016. O mês? Não me lembro ao certo. Era fim de tarde. Eu já havia terminado o trabalho e estava à toa na frente do computador. No monitor, a tela inicial de uma rede social. Eu estava cansada e rolava a tela sem me preocupar em ler as postagens que apareciam. Mas uma me chamou a atenção.
Em um grupo de pessoas com deficiência, uma mãe perguntava se alguém já tinha ouvido falar em rizotomia seletiva dorsal. Esse nome grande me fez parar de rolar a tela. Naquele momento, eu fiquei curiosa. Na mesma rede social, achei um grupo da tal rizotomia.
Comecei a ler depoimentos de mães de pacientes que tinham feito a tal cirurgia e assistir a vídeos de algumas pessoas que tinham operado. A curiosidade só aumentou.
Antes da rizotomia, as pessoas andavam de forma pior que eu. Depois de terem feito a cirurgia e passado um tempo em reabilitação, elas passavam a andar com mais facilidade que eu.
Como assim? Se elas têm paralisia cerebral, fazem essa cirurgia e passam a andar muito melhor, eu também poderia fazer. Era o que passava pela minha cabeça.
Comecei a procurar – nesse mesmo grupo – médicos que faziam o tal procedimento. Coisa de louco? Talvez sim.
Num primeiro momento, encontrei um local no exterior, o que na minha cabeça seria inviável. Depois, achei um neurologista em Santa Catarina. Difícil, também. Rolando um pouco mais a tela, encontrei um neurologista na cidade de São Paulo, o que facilitaria bastante para mim. Vi que mais pessoas falavam bem dele, e isso me passou uma boa impressão.
Pedi à minha mãe que marcasse uma consulta, pelo menos para eu saber um pouco mais sobre essa cirurgia. Passado um tempo, estávamos eu e ela no consultório.
Ele nunca tinha me visto antes. Falei que estava lá por causa da rizotomia. Por ele ter me visto andar da sala de espera até o consultório, ele me disse que aquela cirurgia não era indicada para mim e quis saber sobre a minha deficiência. Eu e minha mãe falamos e, no momento em que falamos da paralisia cerebral, notei que ele estranhou um pouco. Com a ajuda dele e da minha mãe, me sentei àquela espécie de maca que tem nos consultórios.
Ele fez vários testes comigo: de rapidez de raciocínio, de reflexo, equilíbrio, etc. Depois, pediu para que eu andasse um pouco e, em seguida, voltei a sentar como no começo da consulta. Conversamos um pouco sobre as cirurgias, terapias e outros procedimentos que eu tinha feito naqueles 27 anos de vida.
Já perto do fim da consulta, a surpresa: para ele, era pouco provável que eu tinha paralisia cerebral. Para ao menos tentar começar a traçar um caminho, ele me pediu uma ressonância magnética do encéfalo.
Zonzas. Foi assim que eu e minha mãe saímos da consulta. Passado um tempo, fiz a ressonância e, com o resultado, voltei ao médico.
Ele colocou no computador o CD com as imagens do exame e continuou intrigado. O motivo?
Meu cérebro não tem lesão nenhuma.
Pessoas com paralisia cerebral têm no cérebro o que na ressonância aparece como uma mancha: leucomalácia periventricular. Ela diz se o cérebro tem uma lesão. E eu não tenho isso. Em 27 anos, nenhum médico havia pedido para que eu fizesse esse exame. O porquê eu não sei, mas também, esse questionamento não valeria a pena agora.
O que eu tenho, então?
Essa não era (e ainda não é) uma pergunta fácil de ser respondida. A suspeita do médico era – aliás, é e está cada vez mais forte – de que a causa de minha deficiência é genética.
Pode ser que demore para a resposta vir. Independentemente de qual venha a ser o meu diagnóstico, nada vai mudar meu passado nem minha essência.
Porém, meu futuro pode ser melhor. Segundo o neurologista, caso se confirme que o meu cérebro não tem a lesão, ele pode receber algum tratamento – como uma estimulação local – que ajude a melhorar minha mobilidade.
É isso que tem me movido. É isso que não tem feito com que eu desista no meio do caminho e deixe tudo como está.

Crédito da imagem: Autora
Apresentação e capítulo do livro: “Desparalisados”.