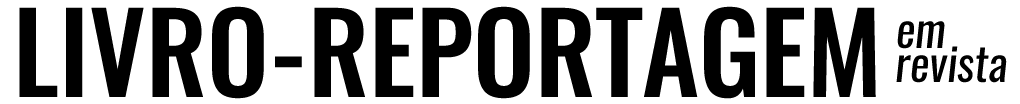Do underground aos saraus e festivais
Em 1998 Daniel Ferro ingressava na PUC do Rio de Janeiro como estudante de Jornalismo. Na condição de calouro, não teve outra alternativa senão submeter-se ao trote, que foi aplicado por ninguém menos que os integrantes da banda Los Hermanos. Como descobriria em pouco tempo, a universidade se dividia entre duas principais tribos: de um lado os “ripongas” da Casinha, do outro os playboys do Pilots. Essa divisão ordenava o comportamento dos estudantes como um todo, desde as diferenças na aplicação das brincadeiras com os novos alunos — os mais “democráticos” versus os mais provocadores — até o estilo musical das bandas que ali se formavam. No caso, Los Hermanos estavam ligados à Casinha e cantavam músicas mais românticas com letras em português; já o Pilots abarcava bandas como Carbona e WickyKids, que optavam pelo inglês. Todos na mesma pegada Hardcore.
Essa questão do idioma parecia bem resolvida no mainstream, mas ainda era uma discussão no perímetro alternativo. Jorge Junior, 38 anos, mais conhecido pelo apelido JJ, no passado vocalista no WackyKids e guitarrista no Rivets, lembra que a língua estrangeira vinha de modo natural para os compositores dos grupos da época. Isso porque muitos deles tiveram passagens pelo exterior, para morar ou para estudar, e sobretudo por buscarem uma aproximação com seus próprios ídolos — aqueles litorâneos norte-americanos. Estavam cientes das possibilidades que teriam no mercado nacional se abrissem mão do estrangeirismo, mas essa era a verdade deles e não ambicionavam mais do que já tinham. Se não era um problema para os músicos, menos ainda para o público. “A gente tem algumas histórias de pessoas que diziam ‘cara, saber que vocês são brasileiros é o que me motiva a aprender [inglês] um pouco mais, falar, cantar’. Eles traduziam, naturalmente, as letras, mas, por gostarem, eles ficavam loucos”.
Quem quisesse ouvir essas bandas se apresentando tinha poucas opções, uma delas o bar Empório, reduto tradicional da Zona Sul há mais de 30 anos. Na calçada lotada nos finais de semana, frequentadores de faixas etárias e nacionalidades diversas. No primeiro andar, comida e bebida como se encontra em qualquer esquina. No andar de cima, ali sim, atrações quase sempre dedicadas ao Rock. Anunciado como uma minipista de dança, o lugar, nas memórias de Daniel, tinha apenas quatro lâmpadas no teto; um ar-condicionado fortíssimo quando estava vazio, mas que de maneira alguma dava vazão quando cheio; e lotação significava, no máximo, 100 pessoas. Foi nesse espaço minúsculo que ele assistiu ao segundo show de seus veteranos, e por lá também passaram todos os outros grupos da época, aos quais ele também assistiu. Se o Riocore precisa de uma localização como ponto de partida, aqui está: Rua Maria Quitéria, 37, Ipanema – Bar Empório.
Nessa fase, a cena se resumia a aproximadamente 200 pessoas, e quase todos tinham ou haviam tido banda. Eram eles tocando para eles mesmos, quando não para amigos e namorados. O público era muito específico, só quem conhecia procurava. Os discos eles mesmos produziam, quase sempre de forma experimental, o que demandava regravações no futuro, e eram lançados nesses mesmos eventos por preços muito baixos. A linha entre admirador e admirado era tênue, dividida entre não mais que dois anos de diferença entre a formação das bandas. Nesta escadinha, basicamente uma banda influenciou a outra, que influenciou a outra… Como por exemplo o próprio Daniel Ferro que, frequentador de todas as tribos da faculdade, se deixou inspirar pelos artistas com quem passou a conviver e se juntou a Carlos Sagaz (em seguida substituído por Eduardo Tuirow), Juca Rocha e Marcelão para formar em 1998 o Emoponto.
Nos primórdios da banda Forfun, JJ cansou de receber elogios e pedidos dos integrantes para que ouvisse suas demos, e nunca deixou de dar o apoio que podia. Em seus admiradores, se impressionava pelo fato de vestirem, com autenticidade, a camisa do português. O guitarrista e vocalista do grupo, Danilo Cutrim, vivia entrando em contato com Daniel para pedir conselhos de gravação e coisas do tipo e também, porque não, tietar. Dibob era outro nome que se espelhava no Emoponto, e sobre eles Daniel conta uma história engraçada: “Fomos tocar pela primeira vez no Ballroom. O Dibob estava lá para abrir, e eles chegaram nos bastidores super nos elogiando. A gente nem sabia quem eram eles, eu lembro que senti aquela coisa, sabe, aquele ar de superioridade de quem chegou primeiro? A casa estava lotada, pensamos que era para a gente, éramos os mais velhos. Quando subiram no palco, o Dibob foi um fenômeno. As pessoas gritando e cantando junto com eles. Não entendemos nada”.
O baterista não sabia até então, mas havia de fato um fenômeno acontecendo, e ele não atendia necessariamente pelo nome deste ou daquela banda. No início dos anos 2000, os colégios particulares tradicionais da cidade carioca transbordavam em saraus. Santo Agostinho, Bahiense, São Bento, Corcovado e Santo Inácio compõem uma lista que poderia ser imensa. Os objetivos das escolas variavam da arrecadação de dinheiro, posteriormente doado, até o simples incentivo na formação cultural de seus alunos, que em segundos passavam de coadjuvantes a protagonistas, de estudantes a artistas. A iniciativa e organização partia tanto deles quanto de seus coordenadores e diretores. As famosas panelas que pouco interagiam umas com as outras no decorrer do período letivo, nessa hora, passavam a partilhar gostos e trocar experiências. Os talentos relevados não eram somente dos matriculados, mas também de ex- alunos, que para lá voltavam como convidados com a “moral” nas alturas, eram motivo de orgulho. É assim que aparece na memória de Bernardo Pereira, o Miguel, sobre as ocasiões em que voltou ao Santo Inácio junto ao amigo André Fialho, o Dedeco, para marcar presença com a banda que lá mesmo formaram, o Dibob.
Da mesma forma que eles, muitos se juntavam com intuito de fazer uma única apresentação, registravam uma composição própria apenas porque era item obrigatório no momento da inscrição, e no final acabavam dando continuidade tamanho o prazer. Ter vínculo com a instituição não era critério, e todos os ritmos eram bem-vindos, do Reggae ao Heavy Metal, mas o Pop Punk — ou Hardcore melódico, dependendo dos critérios de quem quiser rotular — se tornou o queridinho da galera. Os versos retratavam o romance e a rotina da vida dos autores, que não era muito diferente da realidade de seus fãs, e eram quase sempre bem- humorados. Até mesmo os nomes das bandas denunciavam que estavam ali para se divertir antes de qualquer coisa. O alvoroço foi tanto que, em setembro de 2004, a revista Veja Rio produziu uma pequena reportagem sobre o tema, a qual intitulou Escolas de Rock. Além de Forfun e Dibob, estavam biografados na matéria Hill Valleys e Emoponto. Este último, como bem recorda Daniel, teve chance o suficiente de aproveitar a tendência, mas chegou um pouco atrasado. Os mais novos já estavam consagrados como as grandes estrelas.
Esses eventos foram o primeiro divisor de águas. O que aconteceu a partir disso, aí sim, passa a ser considerado um movimento, ainda que involuntário. Antes, era um universo escondido, particular, compartilhado exclusivamente entre músicos e aspirantes a músicos. De repente, passou a ser de todo mundo. Talvez nem as bandas imaginassem que agregariam tantas pessoas em torno si, que conquistariam uma legião de fãs, um público fiel e apaixonado, sem ao menos terem uma canção tocando no rádio — alguns já, outros não ainda. Os palcos modestos das escolas se tornaram pequenos, a quantidade de expectadores demonstrava sinais de que comportava espaços maiores que pátios e quadras. Àquela altura, os jovens artistas já se apresentavam em festivais criados anteriormente a eles, de pequeno ou médio porte, nas escassas — e quase sempre precárias — casas de show da cidade, onde as próprias escolas inclusive tiveram de alugar algumas noites para seus eventos, mas faltava o que viria deles para a frente. Muitos foram os festivais que nasceram em torno dessas bandas, mas dois deles saltam aos olhos e são lembrados ainda hoje: Rio Summer Nights e Rio Rock Tour.
O primeiro foi criado pelo produtor Guilherme Araújo, 36 anos. Quase 20 anos atrás, ele tinha acabado de completar a maioridade e já ostentava um vasto currículo em eventos para adolescentes. Grande parte dos promoters das matinês que ele produzia eram também integrantes de banda, o que o levou a perceber a efervescência de um circuito. Ele já frequentava eventos do tipo e colaborava com os saraus de escola que aconteciam fora das instituições, até que um dia foi convidado a ir a um show do Forfun na Casa Amarela, em Copacabana. Não havia mais 40 pessoas naquele salão, mas todas cantavam e pulavam enlouquecidamente, sem se importar em nada com a desafinação do vocalista. O carisma dos artistas e o delírio da plateia fez com que ele sentisse o desejo de promover espaços para grupos como aquele.
Passou
pelo Garden Hall, Clube Hebraica, Hard Rock Café, cada vez mais lotando
espaços. O Rio Summer Night, contudo, só veio a nascer realmente quando a festa
aterrissou
no clube Scala. A ideia era reunir numa única noite o mais popular da rotina carioca: o Funk inveterado de cada dia, com DJs ou MCs, e o Rock que era a nova sensação do momento. Inusitado ou não, deu certo. Era por volta de 2003 quando a primeira edição aconteceu. DJ Malboro agitou a pista, Sracho abriu para os amigos Dibob e Forfun. Os presentes contavam em 5.000 pessoas. O número impressiona, mas numa outra ocasião da mesma festa, dessa vez com Detonautas, Forfun, Darvin e MC Marcinho no antigo ATL Hall, a marca foi de 8.000. A mesma quantidade esteve no Claro Hall, deixando ainda 2.500 pessoas do lado de fora — segundo Guilherme, a maior recorde de público da história do lugar. No Hard Rock Café, mais de 2.000 ingressos já estavam no esgotados com 15 dias de antecedência. É de tirar o fôlego.
Já o Rio Rock Tour saiu da cabeça do empresário Rafael Brahma, 34 anos. A história de certa maneira se repete, pois Rafael também tinha por costume produzir festas, mas, impedido pela idade, pegava emprestada ou alugava casas dos próprios amigos até que pudesse frequentar casas noturnas, e então rodou a cidade por boates como Prelude, Studio 54 e Baronetti. Os eventos que ele produzia estavam mais voltadas para ritmos pop e eletrônicos, mas o rapaz se percebia musical desde cedo e por isso ouvia de tudo, inclusive bandas de Pop Punk. Empolgado com o que estava acontecendo a sua volta, entendeu que não seria difícil usar a mesma estrutura das suas festas para diversificar um pouco. Porém, ao contrário da Rio Summer Nights, a ideia sempre foi trabalhar apenas com o Rock. Por volta de 2003, criou a marca e entrou em contato com o Claro Hall — casa de espetáculos que anteriormente se chamava ATL Hall, mas foi criada originalmente como Metropolitan. Já se chamou Citibak Hall, voltou a ter o nome inicial por um tempo, e hoje atende por Km de Vantagens Hall.
A proposta era trazer grandes bandas como atração principal, e dar às menores a oportunidade de abrir o festival. Esses iniciantes cobravam cachê bem mais baixos que artistas de mais tempo de estrada, entre $300 e $1.000 no máximo, quando não apenas o custo da viagem. Assim, na primeira edição, CPM 22 foi anunciado como o ponto alto da noite. A casa estava cheia, como sempre seria dali em diante, com 8.000 pessoas. Mas a surpresa para Rafael, e provavelmente para muitos, foi que a empolgação de mais da metade dos que lá estavam aconteceu quando Forfun subiu ao palco. Quando finalmente chegou a vez dos paulistas, o público já estava se dispersando. Já na estreia o empresário percebeu que as bandas tidas como “menores” não eram tão pequenas assim na verdade.
O
Rio Rock Tour acontecia em média três vezes por ano e tinha mais de oito horas
de duração. Começava às 16h e entrava pela madrugada até pelo menos 2h da
manhã. No palco chegavam a passar quase 20 bandas. Rafael lembra que era
curioso ver jovens formando filas gigantes horas antes do show começar, num sol vigoroso
das tardes do Rio de Janeiro, vestindo
roupas pretas ou menos coloridas, dependendo de quem estivesse se apresentando no dia, esperando para ficar horas confinado em um espaço fechado assistindo seus mais novos ídolos. Para ele, o espanto nunca foi a quantidade de gente que era capaz de movimentar, e sim o fato de que ninguém mais estava enxergando a proporção do que acontecia. “As gravadoras, por incrível que pareça, estão sempre atrás de quem está na rua. Eles têm que fazer tanto a roda girar que ficam ali presos no mundo hipnótico deles, e aí você que está na rua sabe o que está para acontecer, qual será o próximo movimento, eles não. Como gravadoras milionários, multimilionárias, não conseguem ver esses artistas antes da gente?”.
Depois de 21 edições no mesmo lugar, aproximadamente sete anos de sucesso de bilheteria, o evento chegou ao fim quando o empresário vendeu sua parte na produtora e seus sócios, por motivos que ele desconhece, não desejaram seguir em frente. Ainda enquanto estava bombando, Rafael observou que o marketing que ele fazia para os grupos era o mesmo que para suas produções, um alimentava o outro. Em pouco tempo fez a transição de produtor de eventos para empresário de banda, e pelo gerenciamento dele passaram Darvin, Strike, Forfun, NX Zero e outras. Por essa facilidade, conseguiu que grupos transitassem entre Rio e São Paulo, fazendo com que as bandas daqui abrissem para as de lá e vice-versa – esquema parecido com o qual Guilherme também propôs no decorrer de sua trajetória.
Nesse processo, Brahma descobriu que realmente amava trabalhar com música. Mais do que o simples entretenimento de suas festas, estava encantado com o que ele podia fazer com ela e o que ela podia fazer com a vida das pessoas. Não é de se espantar que continue nos dias de hoje empresariando artistas (a banda Melim faz parte do seu cast) e tenha duas gravadoras além de uma agência de marketing musical. Guilherme Araújo, por outro lado, trabalha atualmente com produtos sustentáveis e realiza eventos apenas nessa área. Apesar de também ter sido empresário de Forfun e Scracho, não se envolveu tanto, mas guarda boas recordações. “Eu me deixei levar por esse movimento. Torcia muito, cantava as músicas. Não por que eu me identificava com as letras, ou com as músicas, é que existia uma energia, uma atmosfera que te arrebatava. Eu gostava de fazer parte daquilo, me sentia muito orgulhoso de ver aquilo acontecendo. Era quase como uma mágica”. O formato criado pelos dois foi multiplicado por diversos bairros do Rio de Janeiro, entre todas as Zonas possíveis, com nomes diferentes em cada lugar.

Crédito das imagens: Pixabay License
*Texto construído a partir do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “Esse tal de Riocore: uma grande reportagem sobre o cenário Pop Punk e Hardcore carioca dos anos 2000”, apresentado em dezembro de 2018 à Universidade Veiga de Almeida.