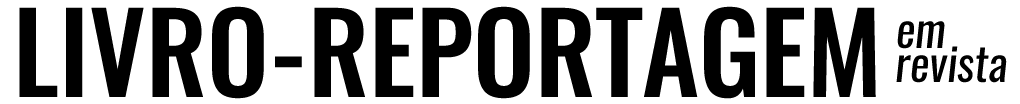Em fevereiro de 2014 decidi fazer um curso de defesa pessoal e após uma pesquisa na internet escolhi a academia Hosho Ryu Ninpo Ninjutsu, na Zona Leste da capital paulista. Ninjutsu significa arte guerreira ninja. Eu sequer fazia ideia de que existia essa modalidade de arte marcial e o primeiro dia de aula aconteceu numa sexta-feira.
Ao chegar à academia fui recebida por meu shidoshi (instrutor), Giovanni Ciampi. Ele estava vestido como um genuíno guerreiro. Usava blusa modelo japonês, calça ninja e bota tabi, feita de lona e com divisão no dedão do pé. Uma das paredes da academia me chamou bastante a atenção, pois nela havia muitas espadas penduradas — as kusariganas, foice pequena com uma corrente grande e, na extremidade, argola de ferro com seis pontas cortantes. Havia também outras pequenas estrelas de ferro também com pontas cortantes (shurikens) e a corrente grande com duas pontas (kusarifundo). Senti-me dentro do seriado japonês do início dos anos noventa, Jiraiya.
O instrutor Giovanni é descendente de italianos, tem 28 anos, pratica ninjutsu há 17 e é formado em Educação Física. Seu sensei (mestre) Cícero Melo é o responsável pela academia e um dos ninjas mais antigos praticantes da modalidade no Brasil. Feitas as apresentações, fui surpreendida por uma pergunta.
— Por qual motivo você procurou a academia?
Hesitei um pouco em contar, mas acabei falando.
— Dois meses antes de procurar o curso, fui ameaçada por meu vizinho, que por pouco não me agrediu fisicamente. Tudo começou quando percebi que ele bisbilhotava na janela do meu quarto. Gritei em voz alta para todos à volta perceberem que aquilo era invasão de privacidade. A discussão se estendeu por alguns minutos. Ao tomar conhecimento, o síndico disse que ele estava errado e que nada justificava o fato dele morar no quarto andar, descer ao térreo, onde moro, e olhar dentro da janela do meu dormitório. O vizinho ficou enfurecido e falou que a vontade dele era bater em mim e na minha mãe até cansar. O valentão tem 35 anos de idade, não trabalha, é sustentado pela mãe e bate na mulher com certa frequência. Eu e minha mãe moramos sozinhas. Somos duas mulheres independentes e seguras de si. Ele e sua família são pessoas com quem nunca tivemos proximidade. O fato de não ter em nossa casa um ser humano do sexo masculino, deve, em sua cabeça doentia, dar o direito de nos agredir. Esse episódio atingiu meu limite e compreendi que precisava aprender a me defender e que deveria reagir. Entrei num dilema terrível. Sou uma pessoa pacífica e teria de me tornar de certa forma violenta, caso houvesse necessidade.
Apesar de confessar quase tudo na primeira resposta, titubeei em responder a pergunta do instrutor Giovanni porque senti vergonha de falar que quase apanhei de um homem que mal conheço e que não tem direito nenhum sobre minha vida. Quando terminei de contar o motivo que me levou à academia, o instrutor disse de forma serena:
— Noventa e nove por cento das mulheres que frequentam nossa academia chegam aqui por dois motivos. Ou foram agredidas, ou ameaçadas.
Saber que eu não era a única mulher que passava por aquela situação me tranquilizou. Muitas de nós somos agredidas e não há para quem recorrer. A única solução que temos é aprender a reagir. Passei por um conflito interno até aceitar que eu, uma mulher que não fazia mal a uma barata e fez trabalhos voluntários boa parte da vida, estava aprendendo a bater em alguém que ousasse me agredir.
Passaram-se 30 dias e terminei o curso. O resultado foi positivo. O vizinho nos deixou em paz sem que eu precisasse usar a força física. Mas resolvi investigar a afirmação feita pelo meu treinador, de que 99% das mulheres que fazem defesa pessoal sofreram agressão, ou foram ameaçadas. Passei a correr atrás da primeira reportagem que futuramente poderia se tornar um livro-reportagem sobre as mulheres que frequentam cursos de autodefesa na cidade de São Paulo.
Será possível uma maior compreensão desse fenômeno? O instrutor Giovanni estaria certo? Iniciando minhas idas a campo, cheguei à Oficina de Autodefesa para Mulheres.
Decisão de revidar
Era um sábado ensolarado atípico para o outono, dia perfeito para curtir a praia ou o parque com a família e amigos. Mas acordei cedo e fui ao local do evento onde aconteceriam as três aulas da Oficina de Autodefesa para Mulheres, um casarão antigo no bairro da Pompeia. Ao entrar, havia um cartaz indicando que a sala da Oficina ficava no andar superior. Após subir as escadas, avistei um pequeno grupo de mulheres sentadas em um banco de madeira no final do corredor. Elas conversavam e pareciam estar bem ansiosas. Aguardavam o início da segunda turma marcada para as onze horas. Ao perceber o falatório, um homem alto, magro, com barba grande estilo Che Guevara, vestindo camiseta e bermuda, saiu de uma sala e dirigindo-se às mulheres pediu desculpas, pois a primeira aula havia começado com vinte minutos de atraso e acabou atrasando os demais horários.
O homem era Felipe M. Silva, idealizador do evento e mestre de karatê, responsável por ensinar técnicas de defesa pessoal. Já havíamos nos falado via Facebook e ele havia consentido a conversa com as alunas. Como ainda não nos conhecíamos, me apresentei. Muito gentil, Felipe disse para eu ficar à vontade. A sala escolhida para as aulas era ampla, pouco ventilada e muito quente. Não tinha ar-condicionado nem ventiladores. O piso era de cimento queimado e sobre ele estão espalhados alguns colchonetes usados para aliviar as projeções no solo. Aproximei-me da porta e fiquei observando a aula que estava prestes a terminar. Era a primeira turma, a que iniciara as atividades com atraso. Observei que cerca de 20 mulheres treinavam, todas concentradas.
Voltei ao grupo que aguardava, apresentei-me novamente e falei sobre minha pesquisa que tem como tema a reação de mulheres à violência. Após a apresentação, disse que gostaria de fazer algumas perguntas. Todas aceitaram. Com sorriso no rosto, disseram que gostariam de contar suas histórias de violência.
A maioria das que ali estavam nunca tinham feito artes marciais. Foi difícil permanecer neutra ao escutar relatos tão comoventes. Aquele foi o primeiro contato que tive com as meninas da Oficina. Elas não sabiam que eu estaria lá para conhecer suas histórias. Foi tudo muito espontâneo. A confiança delas me impressionou. Falaram de coisas muito íntimas e perturbadoras. A empatia crescia a cada depoimento. Enquanto narravam violências sofridas, eu percebia em suas feições e formas de falar, um misto de tristeza e revolta.
Após sofrerem agressões, que agora decidiram enfrentar, elas passaram por mudanças visuais e em seus comportamentos. No curto espaço de tempo que tive para entrevistas, o relato que mais me chamou atenção foi dado por Heloísa Silva.
Ela era uma das mulheres que conversavam ansiosas no corredor. Nunca tinha feito aula de artes marciais. Vestia camiseta regata e calça confortável para atividades físicas. Alta, magra, gesticulava abrindo os braços enquanto falava. Quando perguntei os motivos de estar fazendo autodefesa, a moça falante e de gestos expansivos parou de falar e colocou as mãos entre as pernas. Baixou os olhos como se estivesse lembrando de algo triste e relatou ter sido, recentemente, vítima de abuso sexual dentro de um avião.
Ela viajava sozinha, dormiu durante o voo e acordou ao sentir que estava sendo tocada em suas partes íntimas. Acariciar a genitália de uma pessoa sem que essa consinta é ato libidinoso e, como tal, configura caso de estupro. Mas não havia testemunhas, era a palavra de Heloísa contra a palavra do seu estuprador. A narrativa completa desse crime Heloísa fará no próximo capítulo, que contém a transcrição de uma segunda entrevista que realizamos, em outra ocasião, quando, com mais calma e privacidade, ela remexeu nessas revoltantes lembranças.
Todas as transcrições foram feitas de maneira literal, a fim de manter a oralidade pessoal de cada entrevistada e não prejudicar o conteúdo de suas falas.

Crédito da imagem: Domínio Público
Capítulo do livro “Mulheres agredidas que revidam“