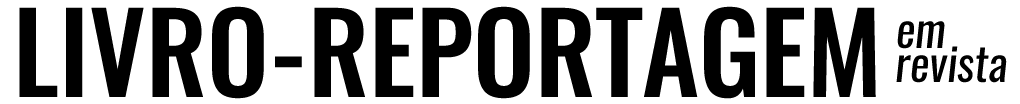– Sobe o zíper, seu Jânio! – disse João em meia voz, chegando-se para o lado do ex-presidente, quando este saiu de uns dos banheiros masculinos do restaurante Alvorada, localizado na Avenida Vereador José Diniz, em São Paulo.
Jânio Quadros encarou o garçom, sem entender nada. João abanou a cabeça. Precisava ser mais claro. Aproximou-se do homem e cochichou:
– Seu zíper abriu.
O ex-presidente olhou para o garçom outra vez. Depois reparou na calça aberta. Gargalhou, achando uma graça excessiva da situação. Exagerou tanto na risada que chamou a atenção das demais pessoas que naquele momento jantavam no salão.
Alguns fregueses pareceram incomodados. Espiavam-no de rabo de olho, com repreensão. Outra vez, Jânio tinha bebido além da conta. O garçom olhou para a mesa na qual ele deveria estar sentado. Lá, de cabeça baixa e toda vermelha de vergonha, estava dona Eloá, a mulher do homem. Ela fez um sinal com a cabeça para João e ele, já habituado ao gesto, entendeu que a ex-primeira dama queria a conta. Conhecia aquele jeito dela de inclinar a cabeça e erguer o queixo, bem discretamente. Afinal de contas, aquela não era a primeira vez…
O casal frequentava assiduamente o Alvorada. Principalmente naquele ano de 1961. Quase toda a semana, os dois entravam pela mesma porta e sentavam-se na mesma mesa. E João, ao toque da freguesa, seguia sempre o mesmo roteiro: caminhava até o balcão, fazia o cálculo, voltava com o total dos gastos e entregava-o à mulher. Dona Eloá abria a bolsa, tirava o dinheiro (uns trocados a mais para a gorjeta) e pedia ajuda para levar o marido até o carro.
O garçom, então, contornava a mesa, ajudava o ex-presidente a se erguer e quase o carregava até a saída. Lá fora, estava um carro esperando pelo casal. Seu João agora não se recorda se quem dirigia o automóvel era a ex-primeira dama ou se havia um motorista esperando por eles.
Alguns curiosos espiavam através da janela do restaurante. Os passantes também davam uma olhadinha. Seria aquele bêbado o…?
– Que vexame, João! Que vexame! – lamentava-se dona Eloá, muito encabulada da bebedeira do marido.
O garçom sorria cordial, colocava Jânio Quadros no banco traseiro e fechava a porta do carro. O automóvel dava partida e logo desaparecia numa curva ao longe.
I
O portãozinho velho e enferrujado – caprichosamente instalado entre dois muros rasos de concreto – range mais alto que as árvores sob o vento. É dona Cleide, mulher de seu João da Silva, quem vem abri-lo. Ela sorri, sem graça, ajeitando os fios de cabelo que lhe escapam do coque desgrenhado.
– Vai entrando. – diz, fazendo um gesto com a mão na direção do estreito corredor que contorna a casinha pelo lado de fora e leva até uma porta de madeira clara, no outro extremo do quintal – O João tá na cozinha.
O cheiro de alho, feijão e torresmo se sobressai ao aroma de sabão em pó que emana das roupas recém- lavadas, penduradas paralelas ao muro que divide o terreno. Diante da porta, dona Cleide toma a frente e a empurra devagar. Do lado de dentro, seu João está de avental com a barriga colada a um fogão industrial.
– Vai se achegando! – exclama sorridente, virando o rosto para a entrada. Suas mãos, habilidosas, continuam a mexer rapidamente alguma coisa dentro do panelão de alumínio.
A cozinha está tomada de fumaça. Dona Cleide puxa uma cadeira, oferece o assento e depois caminha até a janela basculante, acima da pia de mármore, para abri-la. Embora abafado, o ambiente não tem nada de singular, que o diferencie de uma típica cozinha brasileira, exceto por um detalhe quase imperceptível: em cima da geladeira – abarrotada de papeis (contas?), potes coloridos e uma batedeira – jaz um velho relógio de madeira escura. O objeto destaca-se e parece vir do fundo de idades remotas…
– Era da minha vó. – explica dona Cleide, retirando-o de seu lugar. Ela o traz mais para perto.
É pesado e os ponteiros descascados pelo tempo estão eternamente parados numa hora qualquer.
– Faz um tempão que não funciona. Guardo de lembrança… – acaricia-o de leve antes de devolvê-lo ao seu posto de costume.
Seu João também diz ter um objeto herdado da mãe, Raimunda: uma toalha de renda, feita pela falecida.
– Tá doido, homem? Não tem toalha, não! – contradiz a mulher
– Claro que tem. Aquela de renda que tava aí ontem. – aponta para a mesa grande e encardida, cheia de talhos de faca.
Dona Cleide explica, um tanto quanto impaciente, que aquela toalha que cobria o móvel no dia anterior era nova. Tinha sido um presente dado por alguma conhecida. Não tinha, não, teima o marido ainda diante do fogão. Ele tinha certeza de que se tratava da toalha da mãe.
– Para de ser teimoso na frente da menina! – ela o repreende – Credo!
Seu João faz um beicinho na direção da mulher e cala-se por um instante. Desliga o fogo e começa a despejar um apetitoso feijão dentro de um vasilhame de vidro.
– Ontem, quando tu me ligou, já comecei a lembrar de muita coisa do meu tempo de criança… Engraçado como a gente vai se lembrando das coisas assim, do nada, né não? – diz ele, referindo-se ao telefonema para agendar a entrevista.
Enquanto monta as marmitas (que daqui a pouco um motoboy virá retirar) fala de um sonho muito estranho, nebuloso e confuso que teve recentemente. Nele, voltara a ser menino e estava dentro da água. Nadava. Nadava. Nadava sem rumo. Acha que era um rio. Não. Não podia ser rio porque havia ondas… Sim, muitas ondas. Então era o mar.
– Acordei com zonzeira. Tontinho. Parecia que tinha tomado um soco no coco. – conta sem tirar os olhos das quentinhas que está preparando. A rapidez com que coloca o arroz, feijão, frango e farofa nos pequenos compartimentos é de impressionar.
O mar que lhe apareceu no sonho só podia ser aquele em que costumava mergulhar anos antes, quando ainda morava na Vila de Igaraçu, área metropolitana de Recife, Pernambuco. Em suas recordações estão pessoas – muitas pessoas – se banhando na imensidão de águas salgadas. Se o calor estava brabo, aí mesmo é que o povo invadia o mar. Uns pelados. Outros em trajes de banho…
João ia de roupa mesmo. Calça pula-brejo e camisa sem mangas. A mãe ou a avó (não sabe ao certo) gritava para ele: “Desembesta, João. Tira a roupa!”.
N, a, o, til… não! João não tirava. “A vergonha era maior que o calor.”, justifica. Por isso, mergulhava vestido. O solão quente depois secaria tudo mesmo. E, ademais, já matava dois coelhos com uma machadada só: tomava banho e lavava as roupas, simultaneamente.
Com o tempo, o pequeno João percebeu que isso não adiantava de nada. “Quem disse que água do mar limpa a gente?” uma vez questionou alguém. Foi aí que descobriu que, em vez de limpar, ela sujava mais. Bastava sair da praia que a coceira principiava. Era areia para todo lado, pinicando as pernas, os pés, a cabeça.
Daí, quando chegavam ao casebre onde viviam, que ficava no alto de um barranco, a mãe mandava a criançada se lavar na bica. “E você pensa que tinha xampu, creme de cabelo e essas frescuras de hoje? Que nada. A gente usava era sabão de coco!”, lembra.
João e os irmãos – Joaquim, Vladimar, Neusa e Osmir – banhavam-se juntos, para economizar o sabão. E esses momentos eram os mais sofridos para o coitado, que apesar de muito jovem (teria em torno de dez anos na época) já achava ruim ter de mostrar as partes íntimas para olhos alheios. A vergonha de ficar nu diante da mãe, da irmã e de quem mais estivesse por perto era tamanha que lhe fazia formigar o corpo de desespero. Rápido. Mais rápido. Mais rápido, ficava torcendo, na esperança do banho se findar.
O pior era que o lava-lava se repetia infinitas vezes ao longo do dia. Porque em Pernambuco fazia um calor opressivo e era impossível passar muito tempo sem se refrescar na água. E lá ia João e os irmãos para a bica de novo. E de novo. E de novo.
A desculpa que Raimunda dava para os filhos se lavarem nem sempre era o calor. De vem em vez, ela botava todos para limparem os pés. E como na época ninguém tinha sapato e no casebre, com o chão de terra batida, os solados sempre ficavam encardidos, não tinha jeito de fugir da água.
Apesar de tanta limpeza, tudo tinha cheiro de miséria. Essa é a lembrança mais forte que vem à cabeça de seu João nos dias de hoje. Fome e muita miséria.
O casario dos pobres era uma grande mancha escura contrastando com o vermelhão dos barrancos e ruas. Ele se lembra de que sua casinhola era a mais feia de todas. As paredes eram feitas de tábuas apodrecidas e o telhado, de zinco. Zinco ou latão, não sabe dizer qual dos dois.
Se pelo menos tivesse comida, a feiúra do lugar não seria assim tão tenebrosa para João. Mas não tinha. Nem um grão de arroz, de feijão. Nada. Nadica de nada para distrair o bucho vazio que insistia em roncar alto o dia inteiro.
No começo, João choramingava:
– Mãe, tô com fome.
Raimunda, que era lavadeira e passava a maior parte do tempo na tina batendo roupa, ouvia a choradeira do filho calada. Se ele reclamasse muito, vinha a ameaça: mandaria chamar o pai. O menino se calava, apavorado. Morria de medo do homem, do qual diz não se lembrar do nome.
– Lembra, sim. – desmente dona Cleide – Ele é que não gosta de falar.
Seu João olha para a mulher, meio aborrecido. Depois confirma a versão dela, mas prefere não entrar em detalhes.
O fato é que o pai dava-lhe horror. E coitado daquele que ousasse lhe olhar atravessado ou lhe contrariar. Ele transformava-se num bicho selvagem e saía distribuindo murros e pontapés.
Seu João admite que, por causa disso, com os anos, passou a odiá-lo. Odiava-o com toda a fúria de que era capaz. De um jeito inexplicável, endoidecedor. Um dia, quando o pai bebeu muito, uns vizinhos o trouxeram para casa, dizendo que ele quase se afogara no mar. Lamentou que o tal afogamento não tivesse acontecido. O homem não prestava para nada. Só para espancar e gritar com a mulher e com os filhos. Ninguém lhe queria bem. Por que não morria de uma vez?
Então, diante da ameaça da mãe, João não tinha outro remédio a não ser ficar caladinho. Aguentar a fome, feito macho. Caso não conseguisse, que fosse até a rua apanhar um pouco do barro vermelho para comer. No quintal, o que não faltava era lama para se empanturrar. Nesses momentos, decidia dormir. Era a única saída para abrandar a fome.
Quando adormecia assim, muito faminto, chegava a sonhar com comida. E lá no inconsciente, deliciava-se com um café bem quente com pão e manteiga. Hummm… Acordava de madrugada lambendo os beiços de vontade. – Em seus sonhos de vez em quando também apareciam boas roupas e uma cama bem fofa. – Aí, bum! a realidade cruel lhe batia na cara e lhe mostrava que café, pão, manteiga e boa cama não eram para ele. Que gente pobre estava fadada a isso.
Foi por esses tempos que descobriu o significado da palavra miséria. A mãe havia lhe incumbido de ir até a parte nobre da Vila de Igaraçu entregar umas roupas. Chegando ao centro, começou a perguntar aos passantes onde era o número tal da rua tal. Sempre alguém lhe dizia: “É naquela direção”; “Segue por ali”.
No final do percurso, deu de frente com um baita casarão. Ao olhar aquela construção gigante, lotada de janelas e portas, sentiu uma dor profunda no estômago, sem explicação. E uma náusea tamanha que, se tivesse com a barriga cheia, na certa vomitaria ali mesmo, sobre a trouxa de roupa lavada. Inveja? Raiva? Ódio? Sim, tudo isso e mais um pouco.
Entregou a encomenda para uma mulher (que podia ser a dona da casa ou apenas uma empregada), recebeu o dinheiro e voltou para a sua casinhola com o coração repleto de sentimentos ruins.
A vida não era mesmo justa. Por que alguns tinham tanto enquanto ele era obrigado a dormir em cima duma tábua e passar dias sem uma migalha de pão? Por quê? Alguém podia, por favor, explicar-lhe por quê!?
Quando já era mais moço, uma mulher lhe disse que a resposta para essas perguntas estava nas vidas passadas. Quem foi mal em outra existência, voltava com a sina de pagar seus pecados. Por isso, tanta gente nascia doente, pobre, sem perna, sem braço… Na época, não acreditou muito na conversa. Mas, se a mesma fulana lhe tivesse dito isso em seus tempos de menino, quem sabe botava fé.
Fé. Estava aí algo que João deixara de ter na vida. Se é que um dia chegou a ter. No tempo em que a mãe caiu de cama, com um febrão que nem a água benta do padre foi capaz de baixar, a avó veio chamá-lo para rezar. Disse que todos deveriam ter fé.
– Fé? Em quem? – chegou a perguntar.
– Em Deus, ué! –a velha respondeu.
João então rebateu que não acreditava em Deus. A avó, horrorizada, deu-lhe uma sova para aprender a nunca mais repetir tamanha blasfêmia. Que coisa mais feia duvidar da existência divina!
Fingiu que rezou para não apanhar de novo. Em vez de suplicar pela mãe adoentada, ficou remoendo a raiva por ter de estar ali, ajoelhado. Por ser criança e, por isso mesmo, ter de obedecer aos mais velhos.
Queria era poder botar o pé no mundo e ser dono do próprio nariz.
II
O vento batia violentamente no rosto de João, quase fazendo seu velho chapéu de palha voar da cabeça e se perder na estrada sem fim. O rumo? Só Deus sabia. Não. Deus, não. Deixara de acreditar nesse ser único e divino para o qual todos rezavam e suplicavam. Retificando… Só o destino sabia para onde o estava carregando.
Naquele momento, sentado ali no pau-de-arara – como eram conhecidos os caminhões que carregavam punhados e punhados de passageiros na carroceria coberta por uma espécie de tenda –, espremido no meio de uma gente estranha e com os olhos grudados, ora na estrada, ora no pôr-do-sol de mais um dia que se findava, João permitiu-se pensar na baita loucura que acabara de fazer.
Será que estavam procurando por ele? Certamente não. Sabia muito bem que quando dessem por sua ausência (se é que um dia notariam) já estaria bem longe. Nem o pai, nem a avó, nem os irmãos o encontrariam. Jamais. Estava livre. Tinha doze anos e estava solto na vida, como há tempos havia sonhado.
Achava que o beberrão do pai mandaria comprar todas as cachaças da cidade para comemorar a fuga do filho odiado. Comprar não. Porque João depenara a carteira do homem antes de desaparecer. Precisava do dinheiro para pagar a viagem…
Riu-se boa parte da viagem imaginando a cara de demônio que o pai ficaria quando se apercebesse que estava sem tostão no bolso. Só parava de rir, às vezes, para pensar se não tinha sido um filho ruim demais ao fugir durante o velório da mãe. Mas, de que outra forma poderia ter fugido se sempre tinha alguém de olho nele?
O velório de Raimunda, de repente, pareceu-lhe o momento ideal para pôr em prática a fuga. O casebre estava abarrotado de gente. A família distraída…
– Até hoje eu digo pra ele que foi uma vergonha ter desrespeitado a morte da própria mãe. – critica dona Cleide. Seu João não retruca. Será que concorda com a mulher ou prefere não falar nada para evitar uma discussão?
O cheiro de comida dá lugar ao aroma adocicado de desinfetante. O motoboy já havia passado e retirado as marmitas encomendadas. A dona da casa está agora mesmo passando um pano no chão da cozinha. Para não atrapalhar, sugere que a conversa continue na saleta ao lado.
O espaço adjacente é estreito e um tanto ou quanto claustrofóbico. As cortinas vermelhas e pesadas parecem contribuir para essa sensação de abafamento. E talvez, se a estante grandalhona não estivesse no canto, cobrindo parte da janela, seria um lugar mais arejado.
Seu João oferece como assento um sofá, com florões e grinaldas em relevo. Seu semblante está anuviado. Teria sido o comentário da mulher que o deixara assim? Não dá tempo para a indiscreta pergunta. Já está outra vez falando do passado.
– Fui roubado quando o pau-de-arara parou numa parte da estrada. – conta ele. Frisa a testa morena. Coça a cabeleira branca. Quer se recordar exatamente como aconteceu o furto, mas não consegue dizer se o ladrão era algum dos viajantes ou se era um morador do povoado onde o caminhão tinha feito parada.
Se não fosse por um homem muito gentil, que dividiu uma boia e um bocado de água com ele, João certamente teria morrido no meio do caminho. Já estava mais do que acostumado a suportar a fome. Entretanto, a sede era algo que nunca soube como encarar.
Ficou muito amigo do sujeito que o ajudara naquele momento difícil. Era um fulano bem mais velho. Talvez tivesse uns trinta, trinta e poucos anos. Seu João só lamenta não recordar-lhe o nome. Gente boa nunca deveria ser esquecida, na opinião dele.
Quando o pau-de-arara chegou perto de Minas Gerais, João decidiu que seu destino seria um lugar chamado São Paulo, para onde a maioria ali estava indo. Os viajantes exaltavam a cidade, dizendo que a esperança de riqueza estava nela.
E o menino fujão queria era ser rico. Desde quando descobrira que havia gente com muita grana no bolso, como era o caso do povo daquele casarão onde um dia entregara roupas em sua cidade natal, desejou ser igual. Daria o sangue, a alma e tudo o mais que precisasse para conseguir alcançar o auge da vida.
Não sabe quantos dias demorou até chegar em São Paulo. Fato é que, uma vez deixado no meio duma praça qualquer, ficou sem saber para onde ir. Saiu andando sem rumo, pelas ruas da cidade, bestificado com o tamanho de tudo, com os carros tão mais novos, as casas mais esparramadas.
Vagou assim durante alguns dias. Quando a sede era muita, bebia água de um chafariz. O pior era a fome. Não encontrava nada para abrandar o chiado do estômago que nunca na vida tinha sabido o que era ficar cheio.
Certa vez, uma senhora vendo-o parado, perguntou se ele não poderia ajudá-la a carregar a cesta de compras em troca de umas moedinhas. Aceitou. Foi aí que percebeu que estava vivendo numa praça perto duma loja de secos e molhados. Se uma mulher pediu a sua ajuda, outras poderiam fazer o mesmo.
Então, sempre que a vendinha abria as portas, João ficava por ali perto, esperando para oferecer seu serviço de carregador. Ouvia algumas negativas, mas, na maioria das vezes, as senhoras acabavam aceitando a ajuda. E no final do dia, tinha dinheiro suficiente para comprar um prato de comida ou beber um café com um pingado de leite.
No início, o dono da venda ficou desconfiado do menino esfarrapado que se oferecia para carregar as sacolas. Depois, vendo que o pobre só queria trabalhar mesmo, chamou-o de lado e propôs um emprego de ajudante. Além de levar as sacolas das freguesas, deveria limpar o chão, organizar as prateleiras, etc. Mas havia uma condição.
– Qual? – perguntou ele ao novo patrão.
Teria de arranjar trajes melhores para trabalhar. E não poderia vir sujo. Jamais. João, então, explicou que só tinha aquela roupa. Que não tinha como conseguir outra vestimenta. O homem então lhe arranjou uma calça mais nova e uma camisa de mangas longas. Em São Paulo fazia frio. Se andasse descoberto, pegaria uma constipação e morreria à míngua na rua.
Quando contou ao dono da venda que morava ali mesmo, na Praça da República, o homem ficou boquiaberto. Disse que ele era jovem demais para viver assim e que podia ser muito perigoso. Deu-lhe o endereço duma pensão barata e disse que, a partir daquela noite, ele deveria ir para lá.
Precisou mentir que já tinha quatorze anos para conseguir um quartinho. A dona do lugar achou muito estranho um menino tão novo querer morar sozinho. João então se acomodou e viveu assim por um ou dois anos.
Quando se viu mais velho e experiente, saiu em busca de um emprego que pagasse melhor. Os trocados que recebia naquela venda mal davam para pagar o teto e o prato de comida. Ouviu dizer que numa padaria grandona no bairro de Moema estavam contratando balconista. O dono o entrevistou e rapidamente João preencheu a vaga. Só havia um problema. Precisava apresentar documentos. Nunca teve documentos. E agora?
Não sabe explicar como os conseguiu. Mas, ao cabo de alguns dias, já estava trabalhando na padaria. Mudou-se para outra pensão. Preferiu morar na redondeza do novo emprego. Passou cerca de quatro anos ali, atendendo a freguesia, servindo café, pão…
Certo dia, andando pela rua, viu colado num poste um cartaz que dizia algo sobre um recrutamento de soldados para servir ao exército brasileiro. As exigências era poucas: ter dezoito anos completos e ser saudável. Encaixava-se perfeitamente. João tinha ouvido um boato de que, com o tempo, o soldado podia se tornar figura importante, chegar a altas patentes. Virar sargento, tenente, etc. Quem sabe sua ascensão social não estava nas Forças Armadas?
Alistou-se.
– Quando vi aquele mundaréu de moleques, achei que não tinha chance. – confessa seu João, referindo-se ao dia do recrutamento.
Surpreso ficou no final quando ouviu seu nome ser chamado na lista dos que tinham sido selecionados. Recebeu instruções de que teria de estar ali mesmo, naquele quartel, no dia seguinte, bem cedo. Demitiu-se da padaria, recolheu suas trouxas de roupa e um radinho velho, que havia comprado de segunda mão, e apresentou-se ao seu sargento.
Seu João já ouvira berros de todos os tipos na vida, mas nada se comparava à gritaria daquele lugar. Especialmente quando se tratava do sargento responsável pela turma dos novatos, da qual ele fazia parte. O militar era alto, andava de queixo erguido, olhando todo mundo de cima, e tinha uma voz que lembrava marteladas.
Logo após os primeiros exercícios – que consistiram basicamente em correr ao redor do quartel e pagar flexões – os soldados foram levados até o alojamento que, daquele dia em diante, seria o lugar de descanso da maioria (será que essa palavra existia ali dentro?). Seu João lembra-se apenas de duas características daquele dormitório: largo e frio. Demasiadamente frio.
O vento entrava com violência pelos janelões e passeava livre por entre os beliches. Quem tinha cobertor grosso, mal se dava por ele, mas quem não tinha nada além de uma velha manta, como era o caso de João, sofria nas madrugadas de inverno.
Aproximadamente três meses depois de seu alistamento, João achou-se mais magro, abatido e sem esperança de chegar muito longe na carreira militar. Como conseguiria ser sargento ou tenente se para isso teria de prestar uma prova dificílima? Frequentara menos de dois anos a escola em Recife. A fome o impedira de aprender, por isso, preferiu abandonar os estudos na época.
Então, decidiu ensaiar uma mentira bem convincente para que os seus superiores o dispensassem dos serviços militares. Diria que a mãe havia mandado uma carta. Que ela precisava dele em Pernambuco, urgentemente. Inventaria qualquer coisa para livrar-se daquela farda e daquelas paredes opressivas do quartel.
Na tarde em que ia falar com o sargento e lhe dar todas as desculpas de que fosse capaz para abandonar a carreira, aconteceu algo que seu João jamais se esquecerá na vida, mesmo que fique um velho bem caduco.
João caminhava por uma das ruelas internas do quartel quando de repente ouviu um tiro. Viu soldados correrem e ouviu gritos. Apertou os passos, meio tomado de medo e curiosidade, e seguiu para o lado de onde havia vindo o estouro, que tudo indicava ser o alojamento dos novatos. “Tomou uma bala na cabeça”, escutou alguém dizer.
Avistou uma aglomeração junto à entrada do dormitório. Aproximou-se mais. Abriu caminho com os braços. Ficou na ponta dos pés para tentar enxergar. Lá dentro, no chão, entre dois beliches, estava estendido o corpo de um soldado. Era horrendo de ver. A bala lhe furara a face, dividindo-lhe o maxilar ao meio. Ainda parecia vivo, a julgar pelos tremores que lhe sacudiam o corpo.
Minutos depois, chegaram dois tenentes. Empurraram a multidão de rapazes para fora, a fim de impedir que alguém se aproximasse muito. “Foi brincar de tiro. Esqueceu que a arma tava carregada”, explicou outro soldado que dissera ter visto tudo. João olhou para as próprias mãos. Percebeu que tremia como um menino desamparado diante de seu opressor.
Afastou-se do alojamento desesperado. Quase correu. Naquele dia, descobriu que a morte lhe causava horror.
III
No começo de 1962, aos vinte e sete anos, João ainda não tinha conseguiu atingir seu objetivo de vida: ser rico. Havia se casado dois anos antes com Cleide Rodrigues, já era pai de um menino de pouco mais de nove meses, morava numa casa decente em Pirituba, zona oeste de São Paulo. Mas isso tudo estava longe de ser suficiente para ele.
O que mais lhe incomodava? Ser garçom. Este havia sido seu emprego nos últimos nove anos, desde que conseguira a baixa no exército, seis meses depois de se alistar. Passara por estabelecimentos pequenos, grandes, e naquele início da década de 1960, fora contratado pelo restaurante Alvorada.
O ordenado não era ruim, conheceu diversas personalidades que na época frequentavam o lugar – como exemplo, o ex-presidente da república Jânio Quadros e sua esposa, dona Eloá do Vale – no entanto, ainda não podia ter uma casa própria, um carro, etc. Cleide vivia dizendo para ele deixar de invenção. Que ficar sonhando com riqueza não o levaria a lugar algum.
De tanto que a mulher falou, começou a achar que ela estava certa até que dois dos garçons que trabalhavam com ele no Alvorada tinham sido mandados embora e um deles, depois de ameaçar o patrão sabe-se lá com o quê, conseguira uma bolada em dinheiro. Os dois sabiam que João conhecia muito do ramo de comida. Sabia cozinhar (aprendera no exército e em outras lanchonetes). Propuseram uma sociedade a ele.
Sem pensar muito, João aceitou o acordo e dali a alguns meses demitiu-se para trabalhar em seu próprio restaurante, que abrira numa esquina do bairro Paraíso, em São Paulo. O negócio começou capengando. Os sócios não perdiam a fé, dizendo que essas coisas eram assim mesmo, depois tudo se ajeitava.
Não se ajeitou. E os três começaram a se endividar. Um deles chegou até a recorrer a um agiota. Quando este principiou a ameaçá-los, decidiram que a saída era passar o ponto adiante e dividir a dinheiro, se é que sobraria algum, conforme o investimento inicial. No fim das contas, João foi o que mais saiu perdendo. Trabalhara como um louco para manter o negócio funcionando, mas, como não tinha entrado com participação financeira, acabou ficando com uma mão na frente, outra atrás.
Desiludido com a vida, revoltado com tudo e com todos, voltou a ser garçom. Depois disso, decidiu que nunca mais tentaria ser o que não tinha nascido para ser. Pau que nasce torto nunca se endireita. Não era isso que lhe dizia Cleide todos os dias? Pois bem. Aceitaria que nascera torto na vida. E que torto morreria.
– Lavei minhas mãos e dei um chega pra lá no meu sonho. – a voz de seu João ao dizer isso saiu meio embargada. Era como se tentasse segurar uma grande emoção que lhe estava rasgando a garganta. Solta pra fora, seu João, deu vontade de dizer. Só vontade…
Havia começado a escurecer e nem ele nem a mulher acenderam a luz. A cortina vermelha impedia que a pouca claridade de fora invadisse a saleta e aquela penumbra dava a todas as coisas ali dentro um ar sombrio.
A sensação fúnebre durou pouco. Porque dona Cleide acaba de entrar e acender a lâmpada. A claridade lambe nossos rostos. Seu João crispa a testa, com os olhos incomodados.
– Quero que você conheça nossa família. – diz ela, sentando-se bem próxima e abrindo um álbum de fotografias largo e grosso. Página por página, aponta para os retratos grudados ali. Minha irmã, meu filho mais velho, meu neto…
A família não era muito grande, afinal. Três filhos (Marcelo, Rodrigo e Bruno) e cinco netos (três meninos e duas meninas). Os outros parentes eram distantes. Primos, uma tia. Da parte de seu João, nenhum. Desde que saíra fugido de Recife, nunca mais soubera de ninguém. Tem vontade de reencontrá-los?
– Tem dia que sim, tem dia que não. Depende… – desconversa ele. É nítido que não gosta de tocar nessa ferida do passado mais do que o necessário.
– João te contou? Hoje ele acredita em Deus. – denuncia dona Cleide.
Seu João sorri. Levanta-se. Vai até a estante grandona. Abre uma gaveta. Retira dela uma velha bíblia e a traz para mais perto. Confessa que se encontrou com Deus há pouco mais de cinco anos, andando na rua.
Ia com o coração vazio. Triste. Com uma angústia inexplicável. Parou num ponto de ônibus e se deixou ficar, pensativo. Se Deus existe, por que a vida é tão injusta? Por que existe tanta desgraça no mundo?
Passou um homenzinho. Parecia ter vindo de outro mundo. Antes, a rua estava deserta e, de repente, ali se encontrava aquele sujeito. Ele olhou dentro dos olhos de seu João e lhe disse mais ou menos isso:
– Por que te questionas tanto, filho meu? Eu sei o que se passa em teu coração. Eu conheço cada pedacinho dele. E por mais que não acredites em mim, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo…
O estranho se afastou, sempre repetindo a mesma coisa: “eu te amo, eu te amo, eu te amo…” Até desaparecer. Seu João se pegou parado no ponto, em prantos. Pela primeira vez na vida, conseguira colocar para fora toda a opressão, o ódio por seu pai, por sua existência.
Achara seu caminho. Encontrara Deus.

Crédito da imagem: Israel Dias de Oliveira
Capítulo do livro “Fios Soltos: Memória de idosos“