A humanidade olha para cima
Telescópio Espacial James Webb descortina um universo antes invisível e a curiosidade humana vence ao nos fazer olhar para cima, enquanto a natureza clama que olhemos para a Terra
O horizonte irreconhecível, milhões de graus celsius fervem a superfície do planeta que já não abriga mais vida. A água evapora, a matéria orgânica desintegra e o futuro dessa massa de terra perdida no espaço, que, um dia, já esteve a 149.600.000 km de distância do Sol, agora se encontra perdido no meio do plasma solar. A humanidade, se ainda estiver viva, só pode observar de longe, impotente, o destino do planeta natal ser definido pelas leis cósmicas. Esse é o futuro do Sistema Solar nos próximos bilhões de anos. Antes de esgotar seu combustível, uma fase de aquecimento gradual já deverá ter tornado sua orla interior inabitável. No fim, nada de explosões, pois o gigante de hélio que possibilita a vida na Terra é pequeno nas dimensões estelares, assumindo um diâmetro 100 maior do que hoje como resultado de sua fase como gigante vermelha, restará, então, uma nebulosa planetária espetacular. Ainda haverá humanos? Teremos outra casa?
Perguntas não respondidas que deverem guiar os ímpetos científicos nos próximos séculos. Enquanto isso, enquanto temos casa, os olhos que insistem em olhar para cima tentam ser guiados para baixo, para frente, para os lados. A comunidade ambientalista alerta que, se não mudarmos os hábitos e tentarmos recuperar a Terra, não haverá local para treinar nossos impulsos descobridores: para conquistar as estrelas, precisamos dos recursos e das estruturas desse planeta azul que abriga a vida mais rara do universo, a inteligente.
E é essa inteligência que tanto nos impulsiona quanto nos atrasa. Não foi só a curiosidade humana que levou nossos ancestrais recentes a explorar a Lua na primeira corrida espacial. A narrativa da Guerra Fria foi necessária para conseguir apoio público nos investimentos bilionários que a Agência Espacial Norte-Americana (NASA) precisava para fincar a bandeira azul, vermelha e branca estrelada na superfície do nosso satélite natural.
Mais de 50 anos depois, uma nova corrida espacial colocou multibilionários no tabuleiro da conquista do sistema solar: turismo em Marte, carro no espaço, o homem mais rico do mundo deixando a atmosfera em uma nave de formato peculiar. Se o rico é pop, a NASA consegue um engajamento espontâneo ao divulgar seus novos investimentos, como o Telescópio Espacial James Webb (poderosos óculos da humanidade para o universo distante) e a Missão Artemis (com a exploração não-tripulada da Lua).
Olhamos para cima
Se há uma diferença primordial da sociedade contemporânea em que vivemos para a distopia com pitadas de realidade do filme Don’t Look Up (2021), de Adam McKay, é que olhamos para cima com tamanha intensidade, que as vezes esquecemos do que está a nossa frente. Talvez porque, mais do que ver o infinito do firmamento, o céu nos mostra algo mais enigmático: o passado. A astrofísica Alejandra Romero, formada pela Universidade de Buenos Aires e professora na UFRGS, explica a importância do James Webb para a ciência e seu funcionamento.
“Quando a gente fala, na Astronomia, de mais longe, nós estamos falando de mais atrás no tempo. (…) Este é um telescópio infravermelho, ou seja, ele não é ótico como o Hubble, ele observa o calor (…) e os humanos não enxergam, porque os humanos não enxergam o infravermelho.”
O Telescópio Espacial James Webb (TEJW) foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021, custando um total de 8,8 bilhões de dólares. É o maior, mais caro e mais complexo projeto de observação já produzido pela humanidade. Posicionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, o TEJW possui um espelho 2,5 vezes maior do que o Hubble, até então a mais poderosa janela para o universo distante.
Já sobre a missão Artemis, a doutora em ciências físicas elabora que é um tipo de projeto mais voltado para a colonização de outros corpos celestes. “Se começa com a Lua, que é o objeto que está mais perto, que é um objeto que já foi visitado, então de certa forma a gente já ‘conhece’.” Apesar disso, destaca que levar humanos para outro lugar ainda é uma tarefa muito difícil, visto que somos uma espécie totalmente otimizada para realidade terrestre. “Morar em um ambiente que não tem oxigênio, que não tem uma atmosfera como a nossa. (…) Então, uma coisa é levar um robô e o pulo para levar humanos é um pulo bem grande, e, por isso, que está se atrasando o tempo todo.”
Alejandra fala sobre os sucessivos adiamentos da Missão Artemis. Já foram duas tentativas de lançamento canceladas, a próxima seria no dia 27 de setembro, mas a NASA ainda encontra vazamentos nos foguetes de combustíveis. É importante ressaltar que os foguetes da Artemis são os mais poderosos já construídos, o SLS (Space Launch System), com poder de propulsão 15% maior do que o Saturn V, das missões Apollo. A Missão Artemis I busca colocar o módulo Orion (também maior do que a Apollo) na órbita da Lua, tripulada com manequins em tamanho real para simular humanos. É o primeiro passo para a volta do homem à Lua, já que, até 2025, a NASA planeja enviar pelo menos quatro astronautas para o Polo Sul do satélite natural, território inexplorado. São 93 bilhões de dólares (R$471 bi) investidos no projeto, que pretende estabelecer um módulo lunar fixo abrir caminho, também, para a exploração de Marte.
Alejandra Romero finaliza fazendo um balanço sobre as prioridades da ciência:
“A questão da preservação do meio-ambiente também é uma pergunta que eu me faço, (…) na minha opinião é muito mais fácil investir no meio-ambiente que na exploração espacial e muito mais barato. Se poderia fazer as duas coisas, eu acho. (…) Sanar o meio-ambiente é uma questão muito mais política do que científica, eu vou te dizer, por toda questão econômica da exploração de recursos naturais não renováveis, como o petróleo, ao descarte de lixo, a contaminação do rio etc. (…) É mais fácil vender um sonho de morar em outro planeta, talvez, que lutar contra toda uma estrutura, um monstro, do sistema econômico mundial. (…) Procurar um novo lar, se isso acontecer, vai ser um lar para poucos, não vai ser um lar para todos. É bom explorar outros lugares, mas sempre levando em conta que a Terra deveria ser uma base de onde a gente sempre pode voltar.”
Espaço: arma de guerra
Espaço e política sempre estiveram interligados, na primeira corrida espacial, os soviéticos colocaram o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, e os americanos o primeiro homem na Lua, Neil Armstrong. Com o passar das décadas governos tiveram que lidar com a opinião pública a respeito dos investimentos na área. Os desastres com os ônibus espaciais Challenger, em 1986, e Columbia, em 2003, exigiram o posicionamento dos líderes americanos e o reposicionamento da NASA. Na última década, uma nova corrida espacial se desenhou com a entrada de bilionários do tabuleiro do espaço. Muitos já olham para a possibilidade de turismo em locais como Marte, e nos minerais que o sistema solar possui e podem ser explorados.
Para Fabrício Pontim, professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade LaSalle, mestre e doutor em Filosofia, essa nova era de interesse pelo espaço vai desafiar as relações público privada e pode ser uma nova arma de poder para governos.
“Ela (a corrida espacial) era, sobretudo, uma forma de demonstração de poder militar e precisão. Quando você consegue pegar um foguete, mirar num lugar na Lua e colocar um satélite exatamente naquele lugar, você está dando um recado sobre o seu poder de precisão. (…) Você tem essa visão romântica, (…) entender o universo, o cosmos, tem essas imagens bonitas que a gente produz. (…) Claro, e que bacana que a gente está falando disso, mas, não dá para esquecer, o principal fator aqui é de infraestrutura, é militar por um lado, e eu acho que é interessante de ver tantos bilionários se interessando, investindo diretamente em um núcleo que é bastante militar. (…) Um foguete é um item balístico, ele é um míssil. (…) Geopoliticamente, isso é interessante também, porque a gente não sabe quem é que vai ser o dono do espaço.”
“No espaço, ninguém pode ouvir você gritar” — a famosa frase de divulgação do filme Alien (1979), de Ridley Scott, possibilita uma reflexão necessária para o futuro da exploração espacial: por convenção, as leis da Terra se aplicam, também, para o espaço, mas o que acontecerá se alguém reclamar um pedaço de Marte para si? Como limitar o poder dos bilionários nesse território inóspito? Como vai ser a opinião pública caso um crime ou um acidente ocorram nas próximas missões? Sobre este último ponto, Pontim comenta. “A regulamentação do espaço ela é um pouco opaca. O consenso é que crimes espaciais são regulamentados pela Convenção de Genebra. Mas nunca teve um crime no espaço, ninguém nunca acusou alguém de roubar recursos no espaço”.
Sobre o papel do Brasil nesse cenário, as finanças do país indicam uma mínima chance de investimentos em um curto prazo. “O que a Agência Espacial Brasileira tem de interessante é a localização geográfica, e, mesmo assim, o Bezos (Jeff Bezos) e o Musk (Elon Musk) lançam da Guiana (Francesa), mas não se lança daqui, do Norte do Brasil. Porque o Brasil poderia ter um espaço-porto, mas isso requer dinheiro, investimento”.
“O futuro do Programa Espacial Brasileiro, neste momento, é totalmente inexistente. Pode mudar, mas eu não vejo como, não no curto prazo teria que mudar muito a balança comercial brasileira. Por que é, literalmente, a coisa mais cara que um Estado pode fazer, e tem um custo político: os Estado Unidos vão olhar para o Brasil e dizer “ué, mas por que vocês estão interessados em segurança espacial? Esse é nosso papel na Organização dos Estados Americanos”.
Não olhamos para baixo
Olhar para as estrelas é fascinante, e é um ato que conduziu diversas civilizações através dos milênios, desde o desenvolvimento da astronomia até o místico ligado às religiões, o zodíaco e a astrologia. Olhar para cima impactou as culturas e a ciência ao redor do globo, mas este ato não pode impedir que olhemos para a Terra, necessário exercício de atenção ao que vem ocorrendo ao nosso redor. Ambientalistas do mundo inteiro vêm alertando para o aumento da temperatura terrestre há décadas. Nos últimos anos, esforços para reduzir o impacto do aquecimento global motivaram a firmação de acordos, como o da Conferência do Clima de Paris, em 2015, onde os governos se comprometeram em reduzir as emissões de gases do efeito estufa até 2030 — tentativa desesperada de frear o aumento da temperatura na Terra, que, em 2016, atingiu 1° (um grau) de anomalia pela primeira vez.
“Os últimos seis anos foram os mais quentes registrados desde 1880, sendo 2016, 2019 e 2020 os três primeiros, de acordo com um comunicado de imprensa da Organização Meteorológica Mundial (OMM) em 15 de janeiro. O ano 2020 foi de 1,2°C acima das temperaturas da era pré-industrial (1880).” O aumento alarmante da temperatura global (unep.org)
Para Carlos Durigan, mestre em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e diretor da WCS-Brasil (Associação para Conservação da Vida Silvestre), é necessário fazer um arranjo melhor dos investimentos e direcionar recursos que abranjam todas as áreas da ciência, sem privilegiar apenas um setor. “Hoje, nós temos no planeta uma prioridade que é melhorar a forma como nós vivemos e produzimos (…) e reduzir os impactos que nós causamos como espécie, como sociedade”, diz.
Sobre a dicotomia em que vivemos entre os investimentos extravagantes na exploração espacial e o pouco tempo que ainda temos para reverter os colapsos ambientais e climáticos, Durigan avalia:
“muitas dessas fortunas do planeta (…) estão relacionadas às ações destrutivas, (…) como a exploração de petróleo e gás, a mineração em larga escala… Então, nós temos aí, digamos, até uma dívida dessas grandes fortunas no tocante à processos de compensação, e mesmo de reparação, dos estragos causados”.
O ecologista ressalta que as descobertas científicas relacionadas ao espaço são, também, úteis na sobrevivência da espécie humana no futuro, contanto, o futuro próximo urge da necessidade de abrandar a degradação do planeta.
“reduzir emissões para conter o avanço da mudança climática global, (…) conter o desmatamento em áreas naturais, promover restauração florestal. Inclusive, essas atividades elas também geram (…) recursos. Quando nós temos essas ações em curso, elas, inclusive, contribuem na melhoria na forma de produzir riquezas.”
A pegada humana na Terra
Não há como impedir o avanço científico da humanidade nos conhecimentos do universo — e sequer há a necessidade. Os próximos anos devem demonstrar um aumento do movimento político e privado de interesse espacial, com mais imagens extraordinárias do Telescópio Espacial James Webb, além de informações de novas missões para explorar a Lua, Marte, e todo o Sistema Solar. Bilionários encontraram no espaço uma nova forma de arrecadar recursos para aumentar suas fortunas, e transformaram essa busca em um reality show midiático para ter a opinião pública ao seu lado. É necessário senso crítico para distinguir as intenções daqueles que veem nos territórios inexplorados da galáxia a chance de obter mais poder: o interesse científico deve ser nosso maior impulsionador, visto que recursos públicos são investidos no setor.
Para além de acompanhar os pioneiros momentos de conquista do espaço, a sociedade contemporânea não pode mais fechar os olhos para a situação do planeta Terra. Chuvas torrenciais alagam o Paquistão, tempestades tropicais devastam o Caribe, a Indonésia afunda sob o nível de água que sobe, secas e queimadas são registradas da Austrália a Califórnia, ondas de calor varrem a Europa e calotas polares se desprendem dos blocos continentais da Antártida e do Ártico. Olhar ao redor, para esse planeta azul que Caetano Veloso cantou quando saíram as primeiras imagens da Terra vista do espaço, hoje, é mais doloroso do que poético. Guerras e fome tiram o foco pela luta de preservação do meio-ambiente. Durante a pandemia, um terço do Pantanal pegou fogo. Mais do que eleger líderes que ajudem no combate à destruição, é necessário fornecer o exemplo e se interessar pelas questões ambientais.
Queremos olhar cada vez mais longe, nos sentires nas estrelas, vagando pela velocidade da luz, como em Star Wars. Lutando contra esse impulso tão humano, com a cabeça na Lua, olhar para Terra se torna mais do que um ato de perceber o redor, mas olhar para baixo. É como se nosso ponto de observação fosse a Estação Espacial Internacional, ou os telescópios vagando pelo sistema solar, talvez os satélites na atmosfera — que tanto retransmitem as séries que vimos daqui. Olhamos para cima, esperando que as estrelas deem um sinal, e a mais próxima delas nos avisa, sob altas temperaturas, que ainda vai nos engolir.
Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada
ilude a polícia, rompe o asfalto.
Façam completo silêncio, paralisem os negócios,
garanto que uma flor nasceu.
(A Flor e a Náusea — Carlos Drummond de Andrade)

Crédito das fotos: Israel Dideoli
Publicado originalmente em: Medium.com
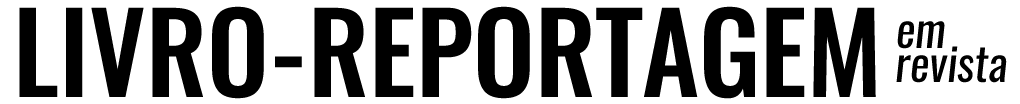
 Doto Takak Ire trabalhou com a Funai por 20 anos e agora é relações públicas do Instituto Kabu (Crédito da imagem: Andressa Anholete/Agência Pública)
Doto Takak Ire trabalhou com a Funai por 20 anos e agora é relações públicas do Instituto Kabu (Crédito da imagem: Andressa Anholete/Agência Pública)






 Imagens de satélite de 2016 já mostram intensa atividade garimpeira dentro da APA e numa região solicitada por Cecchini junto à Agência de Mineração. Crédito da imagem: Satélite Google
Imagens de satélite de 2016 já mostram intensa atividade garimpeira dentro da APA e numa região solicitada por Cecchini junto à Agência de Mineração. Crédito da imagem: Satélite Google Avião apreendido pela PF pertencia à RJR Minas Export Eireli, ligada a Bruno Cecchini. Crédito da imagem: Divulgação/Polícia Federal
Avião apreendido pela PF pertencia à RJR Minas Export Eireli, ligada a Bruno Cecchini. Crédito da imagem: Divulgação/Polícia Federal Malotes apreendidos pela PF continham cerca de 111 kg de ouro. Investigações posteriores apontam que o ouro tinha origem ilegal. Crédito da imagem: Divulgação/Polícia Federal
Malotes apreendidos pela PF continham cerca de 111 kg de ouro. Investigações posteriores apontam que o ouro tinha origem ilegal. Crédito da imagem: Divulgação/Polícia Federal Bruno Cecchini foi indiciado ao lado de 14 pessoas físicas e jurídicas pela PF-GO por supostamente chefiar uma organização criminosa para exportar ouro ilegalmente do Brasil para a Europa. Crédito da imagem: reprodução
Bruno Cecchini foi indiciado ao lado de 14 pessoas físicas e jurídicas pela PF-GO por supostamente chefiar uma organização criminosa para exportar ouro ilegalmente do Brasil para a Europa. Crédito da imagem: reprodução
