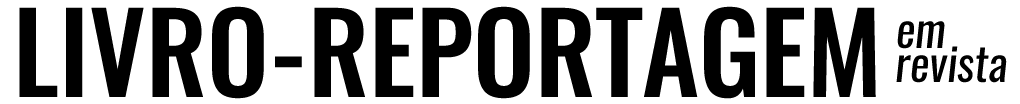Vez ou outra, meu pai ligava para um velho amigo. Se conheciam desde a adolescência, seu nome era Mário. Marcavam encontros que nunca se tornavam realidade. Talvez quisessem se ver, de fato, mas não o suficiente para fazerem sala por algumas horas. Ainda me lembro de como íamos à casa do Mário e ele mostrava as filmagens de sua mais recente viagem, enquanto eu passava o tempo acariciando uma fêmea Dachshund.
A única viagem que meu pai fazia era para Ubatuba. Para a mesma casa, mesma praia, com os mesmos hábitos. E de tênis. Usava um New Balance bege e azul, amarelado pelo tempo e com a sola descolada. Uma camiseta branca, com uma foto estampada de um cavalo Mangalarga roxo, atravessava o peito. Seus passos inclinados tornavam as pegadas na areia desengonçadas, evocando o vagabundo de Charlie Chaplin.
Ele também viajava para seu sítio. Me lembro como às Quartas-Feiras, dia do rodízio de seu Uno-Mille-preto-quatro-portas, eram reservadas para me tirar da escola e lhe fazer companhia em mais uma jornada, onde saíamos cedo e voltávamos tarde da noite, escapando da multa. Ele queria conversar, mas eu cochilava pelo caminho e o deixava sozinho com seus pensamentos. Imagino que era difícil para alguém com tantas ideias e labirintos não encontrar uma saída, uma troca com seu pequeno amigo. E, para piorar, o carro não tinha rádio.
Morávamos de aluguel em um apartamento na Rua Bela Cintra. Não em sua área nobre, mas na parte baixa, próxima ao cemitério da Consolação e da Rua Augusta, onde era comum pessoas serem roubadas e tiroteios acontecerem, com fogos de artifício anunciando barato novo no pedaço. O senhorio era uma das tias de minha mãe, que, por muitos anos, fez um preço abaixo do que era justo, até que as coisas apertaram.
Não tínhamos casa própria porque meu pai investira tudo no Rancho Chaparral. Quando vi as fotos do que era o tal pedaço de terra antes de encontrar suas mãos, inventividade e ambição, foi um choque. O que aquele homem atingira, a metamorfose que havia colocado em prática, era admirável. E ele nunca descansava, nunca estava satisfeito. Agora, um calçamento; agora, uma cerca de palanques de eucalipto; agora, um muro de pedra. Os devaneios que o acompanhavam, e como ele narrava nossa futura vida ali em sua fortaleza, seu paraíso, eram homéricos. Eu desdenhava de suas aspirações, achava seu assunto entediante e não suportava como arquitetava um balcão octagonal em seu protótipo de churrasqueira. No fundo, meu íntimo queria, desejava que se realizasse, mas não era capaz de dar a mão em apoio. E as chuvas. Quantas chuvas assolaram aquele lugar, que parecia enfrentar uma maldição, vítima de inveja, de ódio fundido ao sangue pisado de heranças rancorosas.
Foi de cortar o coração, então, ver um homem daqueles abrir mão do fruto que concebera por tantos anos, mais velho do que a existência de seu próprio filho. Cheguei a crer que competia por seu amor e atenção com os lindos amontoados de morros. Era ressentido por termos jogado bola apenas duas vezes, já que ele estava sempre ocupado, botando seus projetos em funcionamento. Visualizando onde cada prego seria batido, onde instalaria seu salão de festas.
Foi por meio de meu avô que entendi a necessidade de apreciar as coisas enquanto estão ali. Compreendi que, quando a hora chega, tudo se desfaz em brisa. Numa ocasião, pescamos onze lambaris e depois devolvemos tudo para a água, em mais um dia de aula perdido. Lá cruzei pontes e descobri uma enorme cratera sem fundo, o boqueirão, onde restos de folhas e resíduos aglomerados no ladrão da barragem eram arremessados. Lá, certa vez, peguei uma vara de pau e caminhei sem rumo pela estrada de terra durante uns quarenta e cinco minutos. Lá tentei matar uma aranha gigantesca com minha espingarda de chumbinho, e quase decepei meu dedo fora. A cicatriz permanece. No inverno, ainda dói.
Na verdade, um homem realmente perdeu um dedo ao carregar uma das toras maciças de madeira envernizadas com óleo queimado, num dia de folga em que, por acaso ou destino, resolveu ajudar seus compadres. O que sobrou do membro, porém, incrivelmente criou uma nova unha, e ele voltou a tocar acordeom. E ficava feliz por isso.
Na volta, passávamos pelo Rancho da Pamonha e nos alternávamos entre sucos e cremes de milho. O carro 1.0 parecia um foguete, e seu piloto cruzava a noite envolto em um casaco que mais parecia uma pele de urso. Vínhamos contando piadas e dando risadas, zombando mais uma vez das esquisitices de meu pai. Não raro, era acusado de não seguir as mesmas tradições de seus antepassados. “Você não gosta de animal, Tico.” O Tico sempre fez questão de delimitar o espaço para humanos e bichos. Jamais me permitiu ter um cão, ao que meu avô nunca passou um dia sem seus cachorros em casa. Não perdeu o entusiasmo nem mesmo quando foi atacado por seu pastor alemão, Van Damme, que enxergava muito mal, porém era gracioso ao se apoiar no parapeito da janela, emulando um fofoqueiro da vida alheia.
Meu pai se desfez de seu pedaço de terra, sua paixão e oásis, para garantir sua tumba. Depois de anos sem dormir ao escutar uma trovoada, aguardando a notícia de que mais uma represa havia estourado, ou mais uma praga destruído suas mudas, comprou um apartamento no último andar de um prédio. Agora, ele podia ficar circulando por seus noventa metros quadrados, lembrando de seus três alqueires e meio de terra, do cheiro de chuva na grama fresca e das histórias de assombrar que os caseiros contavam enquanto fumavam cigarros de palha e tocavam uma moda de viola. Ou quando nós mesmos vivenciamos um causo sobrenatural, ao nos depararmos com duas moças que pareciam saídas de um filme noir: uma de vestido preto e a outra de vermelho, arrumadas para um baile de gala. Ali, na estrada de terra, no meio do nada. Quando viramos para trás, em mais uma espiada, tinham desaparecido.
Ele também criou um roteiro próprio de faroeste, quando um explorador de areia ameaçava destruir a paisagem que tanto gostávamos de contemplar ao fazermos xixi, e meu pai avisou que ia matá-lo. O aviso, ao invés da ação, o fez criar paranóia de perseguição, e, quando um outro carro ou uma moto aparecia pelo caminho da volta, eu rezava, enquanto ele ficava em silêncio. O impulso do fazer é algo que se perde com o tempo. Em épocas de garoto espoleta, em que diziam que tinha orelhas de abano e seu apelido era Topo Gigio, não vacilaria.
Agora ele perambulava pelo chão de taco. Ia até o banco, ao mercado, e voltava, deitando-se em um colchão improvisado no meio da sala, para assistir todos os filmes com batalhas épicas dos catálogos que comprara. Também era dono de dois carros do ano, com motores potentes e câmbios automáticos. E com rádio. Só não tinha para onde ir. E meu avô, bem, fingiu que não conhecia mais ninguém e desdobrou-se em uma nova vida de mistério, me deixando com suas fotos e a lembrança do cabelo fino e escuro, penteado para o lado com óleo Johnson.
Meu avô era meu ídolo. Um totem dourado, um santo ao qual poderia acender velas e pedir bênçãos. Permanece límpida a lembrança de quando se cortou abrindo uma lata e toquei seu sangue, achando que herdaria sua imortalidade. Ou quando pedia para colocar seu anel de formatura, dourado e adornado com brilhantes e uma pedra de rubi. Acreditava que absorveria seus superpoderes, mas não abusava, pois, segundo seu alerta, quem usasse o anel antes da hora, jamais se formaria.
O velho Wilson foi meu objeto de veneração por duas décadas, e cada capítulo revelado de sua vida somava uma nova camada ao famoso, complexo e imprevisível personagem. Descobri que ele costumava calçar a porta de casa com um palito de fósforo, para saber se minha avó tinha saído. E, mesmo que não tivesse, ele batia nela. Era casado e tinha uma noiva. Foi médico, advogado, caubói e Segundo-tenente, sua carreira mais desejada e cheia de nostalgia. Sua idade avançada à época do exame não o impediu de trocar de identidade, forjando um novo ano de nascimento, que incorporou com verdade absoluta mesmo depois de sua expulsão, após aplicar um trote bobo em um calouro.
Abandonou os filhos e torrou todo seu dinheiro com carnavais. Teve seu assassinato planejado pela terceira esposa e o amante, e conseguiu escapar. Tudo isso para, anos depois, sentar e dividir a ceia de Natal com sua algoz, que, por pouco, não o envenenou com doce de leite. Eu tinha admirado sua face marcada pelos anos, em um aparente período em que sua onça interior era julgada como domada, mas que logo despertaria e tentaria recuperar sua glória, enterrada na cova que o próprio cavara. Uma nova artimanha, uma carta na manga, escrevendo outro ato para a tragédia cômica da família.
Meu pai queria ser meio-campista do Santos, mas lhe disseram que era coisa de vadio. Queria ser piloto de avião, mas sua vista era apenas metade boa. Quis ser veterinário, mas não pôde se dar ao luxo de decidir por si mesmo. Gastou seus primeiros cabelos brancos criando cavalos, e todos, mais dia ou menos dia, tinham uma cólica ou um casco infeccionado, caso de Rubi e Damasco, que por mais que parecessem robustos como a pedra, eram frágeis como a fruta. E eu percebi como a chuva varria o ímpeto dos homens mais corajosos do mundo.
Quando alguém se desfaz de seus sonhos, acho que Deus chora. Como quando o Mário liga e brinca que vão sair e “buscar umas gatinhas” para a matinê de Domingo no Palmeiras, ou curtir o baile do Havaí no Juventus. Mas o Mário ficou careca, e sua voz tão baixa, que é preciso se curvar para ouvi-lo. Tudo depois de se casar por não mais que desespero, ao ver que ficaria sozinho no fim de festa das boates oitentistas.
Isso me lembra de um amigo meu, chamado Jorge, que jogava futebol. Nós costumávamos competir pela posição de artilheiro do time. Sua vitória era impossível jogando na defesa, enquanto eu permanecia no ataque. Mas ele achava que poderia ganhar, e esse otimismo inabalável me dava nos nervos. Fizemos um teste em um time pequeno e nos saímos bem. Na segunda chamada, temporal. Na terceira, dilúvio. E nunca descobrimos o que aquela porta do futuro nos reservava. Hoje o Jorge tem dois empregos e nenhum dia de lazer, tampouco para jogar uma pelada. Ele também perdeu muito cabelo e ganhou muito peso. É casado com uma moça e padrasto de um garotinho. E parece feliz.
Meu pai vem ao meu quarto só para saber como estou. Joga uma isca, uma conversa fiada, e eu o dispenso, às vezes grito, pois quero terminar um filme cujo tema é a relação entre pai e filho. Depois choro e vou dormir com os olhos inchados, mas ainda assim não consigo abraçá-lo. Não consigo dizer que o amo. Talvez porque sinta vergonha de ter adorado o homem errado por tanto tempo, e pedir seu perdão seja doloroso demais. Talvez porque sejamos muito diferentes. Talvez porque sejamos exatamente iguais e odeie a mim mesmo. Talvez porque queria ter sua autoconfiança, sua certeza de que poderia brigar com cinco caras segurando a jaqueta em uma das mãos. Talvez pela sua total capacidade de decidir quando começar ou largar um vício. Ou simplesmente por causa da chuva.
E eu que sou um viciado em fins de festa, em copos pela metade. Nas fumaças de cigarro que pairam sob a linha do horizonte, naquela névoa que interpõe os olhares com a outra mesa, com a outra ponta, com o outro desejo. Viciado no proibido e na curiosidade que, depois de sanada, traz vergonha por parecer tola.
Voltei pra casa muitas vezes trançando as pernas, obrigando meu pai a perder sua noite de sono para ter certeza de que eu continuaria a respirar. Em meus regressos, gostava de ficar sozinho com os pensamentos, ou a falta deles, e abusava do maestro da orquestra hedonista. Quando acordava de ressaca, ia até a cozinha e inventava uma desculpa batida, tentando entender por que deixava os bons momentos escorrerem pelos dedos. Por apreciar demais não o presente, mas o que veio antes e o que viria depois, por desprezar a tranquilidade. Por ter medo da chuva, ao invés de dançar nela.
Meu pai se matou por vender sua alma em troca do sossego. Enquanto meu velho herói e anjo caído, embalsamado em mesquinharia, pisava na calçada da rua sacando seu pente de tartaruga e alisando aquele lindo cabelo preto. Avô rico, pai nobre e filho pobre, todos esperando pelo que iria tentar derrubá-los em mais um glorioso dia, em uma nova missão de fé. Correndo do destino em seus calcanhares, longe da paz, navegando na tempestade.

Crédito da imagem: Simplified Pixabay License