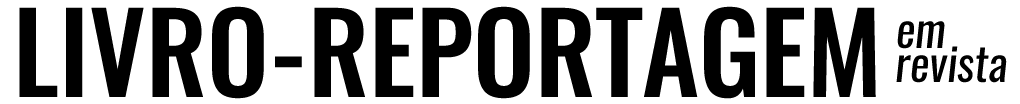Os principais porta-retratos são reservados aos intelectuais italiano Antonio Gramsci (1891-1937) o ucraniano Leon Trotsky (1879-1940). Na rua Valle, próxima à estação de metrô Primeira Junta, linha A, a casa fica em um bairro residencial, que faz lembrança à Vila Mariana, em São Paulo. Mas Diego Rojas está longe de ser calmo como a rua que escolheu para viver. Rojas é o típico jornalista em essência: inquieto com os movimentos do mundo, indignado com a negligência do Estado e sempre pronto para mobilizar.
Exercendo o jornalismo em sua função primordial, a de investigar e informar quem o lê, o periodista argentino já trabalhou com cultura e agora se dedica apenas à política, muito embora defenda que as duas não sejam nada separáveis. Rojas hasteia bandeiras polêmicas, e presentes nas melhores mesas sobre jornalismo, como, por exemplo, a do diploma. Para ele, jornalismo é ofício, labuta. “Há amigos que não terminaram a faculdade e fazem jornalismo cidadão. Jornalismo é função social, política”, diz.
Acomodado a uma mesa redonda, um tanto bagunçada com livros e papéis, ele oferece água e seu sofá. Despojado, o jornalista transparece viver para a profissão, que, mais do que escolha, é vocação — e vício. Na Valle, a casa também parece se entregar logo a uma primeira olhada: morada de um homem só, sem muito tino para afazeres domésticos. Dias depois, um encontro ao acaso, em uma manifestação na Plaza de Mayo, comprova todas as prévias observações feitas do jornalista. Rojas era uma das principais figuras no ato que lembrava a famosa tragédia de Once: em 2012, um acidente ferroviário vitimou mais de 50 pessoas na manhã de 22 de fevereiro. Quase 800 ficaram feridas.
Assim como o jornalista brasileiro Leonardo Sakamoto, Rojas se serve das redes sociais para expressar o que pensa sobre o mundo e, principalmente, sobre o kirchnerismo, tema da obra El kirchnerismo feudal, publicada em 2013. Mas não são os relatos dos governos de Néstor e Cristina (2003-2015), sob a ótica de quem vive nos interiores do país, e nem o livro sobre tweets políticos, o Argentuits (2012), que encaixam Rojas na clássica imagem do repórter — e o trazem para este livro.
Além das páginas dos jornais: o caso Mariano Ferreyra
Com título inspirado no clássico ¿Quién mató a Rosendo? (1968), do jornalista argentino Rodolfo Walsh, Quem matou Mariano Ferreyra?, publicado em 2011, se propõe a desvendar o assassinato de um militante do Partido Obrero, ocorrido em uma manifestação de trabalhadores no ano de 2010.
Mas por que se debruçar sobre a história de Mariano? “Eu sou socialista”, responde, uma obviedade, sorrindo. “Quando era jovem, eu militava no partido trotskista. Parecia certo que havia acontecido um assassinato. Assassinato por lutar. Me tocou e me sensibilizou”, conta Rojas. A morte do jovem dirigente da FUBA (Universitária de Buenos Aires) despertou no jornalista o instinto mais primitivo: “tenho que reportar”.
“Nós somos jornalistas, temos que ver de que modo colocamos a nossa energia e a nossa vontade a serviço da justiça.”
Rojas foi o único a conseguir uma entrevista com José Pedraza, o ex-secretário da União Ferroviária condenado a 15 anos de prisão pelo assassinato. “A única entrevista que o incriminou, segundo disse a Justiça, foi a que está neste livro.”
Três perguntas a Diego Rojas:
Você resolveu reportar o caso de Mariano Ferreyra em livro. Na sua visão, falta espaço na grande mídia para as grandes reportagens?
A primeira opção para a reportagem foi o livro. Na Argentina, há um clássico que se chama Quem matou Rosendo?, de Walsh, que abandonou a literatura para se dedicar ao jornalismo. Em um momento de sua vida, ele decidiu que escreveria sobre a realidade política da sociedade. Então, Quem matou Mariano Ferreyra? segue essa linha. Como Walsh, procurei uma investigação para denunciar um assassino. E procurei as provas que demonstravam que havia existido um plano homicida. É um pressuposto. O formato do livro é mais adequado para a história. Os livros e as investigações têm uma estante na biblioteca. O Twitter, por exemplo, é efêmero.
E como você se preparou para escrever sobre o assassinato de Mariano Ferreyra?
O livro, que teve muita repercussão aqui, foi escrito rapidamente. Eu comecei a escrever em dezembro de 2010 e foi publicado em março de 2011. A investigação foi muito interessante e foi toda realizada simultaneamente. Não dormi por quatro meses [risos]. Escrevia todas as noites e buscava testemunhas no campo mesmo, em arquivos. Entrevistas com os participantes desse crime.
Ferreyra foi assassinado em outubro de 2010 e em março de 2011 terminava a investigação sobre esse assassinato. Então, [o livro] foi todo realizado juntamente com a investigação policial. E a Justiça tomou esse elemento de investigação jornalística para sustentar como prova. Estou convencido de que o jornalismo é útil.
Na sua opinião, por que ainda escrevemos livros? Por que ainda produzir essa peça física?
A web é o espaço, o campo, em que vai se desenvolver o jornalismo. Existem sites de jornalismo muito interessantes que permitem grandes reportagens, que não poderiam ser publicadas nos jornais impressos, porque há uma limitação física. Então, me parece que estamos num período de transição, em que existem possibilidades interessantes sobre o trabalho do jornalismo.
No entanto, o livro tem uma extensão que não é de uma notícia. Ele tem a virtude da transcendência. Há algo que me deixa muito orgulhoso. Eu escrevi sobre Mariano Ferreyra e teve uma série de desdobramentos políticos fortes. O livro que escrevi foi tomado como uma prova pelo tribunal e eu fui testemunha do julgamento. Daqui a 20 anos, quando alguém for buscar informações sobre o caso, vai buscar na biblioteca, no livro que eu escrevi. Um livro tem essa possibilidade de extensão no tempo. E acredito que isso seja o mais interessante de tudo.

Crédito das imagens: Autoras
Capítulo do livro: “Quarta Capa: o livro sobre livros“