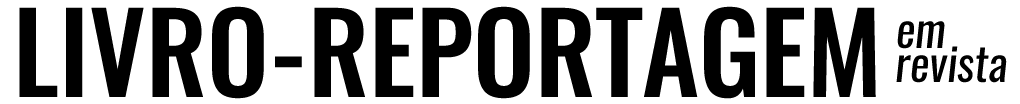E, então, ele pegou sua máquina de escrever e pôs-se a trabalhar:
Mais do que nome
É paixão
Mas também solidão
Mais que amor é sofrer
É sonhar e viver
Maria menina-moça
Maria mulher
Maria namorada
Maria alegre
Maria calada
Maria calor
Maria com frio
Maria terror
Maria Brasil
Maria cansada
Maria com fome
Maria amada
Maria sem nome
Maria…te quero
Maria…te tenho
Ele escreveu isso aos 19 anos. Estava apaixonado. Ela ainda não era uma puta naquela época.
Conheceram-se através de uma colega em comum. Eram vizinhos e ele aproveitou para convidá-la para uma festa. A garota vinha de longe, de um lugar onde as casas não tocavam o céu e o breu da noite só era desafiado pela luz das estrelas. Era um ano mais velha do que ele. Magra, tinha cerca de uns 40 e poucos quilos. Não chegava nem a um metro e 60. Sua pele amendoada era macia e firme e seus cabelos pretos abrigavam lindos cachos. Trabalhava em uma metalúrgica e dividia o aluguel com uma colega. Longe da família, tudo devia parecer difícil. Trabalhava-se muito e comia-se pouco. Sentados na calçada, apaixonaram-se. A garota logo virou mulher e seu ventre começou a despontar, deixando suas roupas cada dia mais curtas.
É engraçado pensar nas memórias que nos seguem. Muitas coisas foram esquecidas, mas muitos momentos ainda são lembrados, enraizados na carne. A filha lembra-se de algumas coisas da infância, mas esquece de outras, felizmente ou não. De toda forma, lembra-se muito bem daquele fim de manhã, tarde ou noite. Ela e o primo eram cachorros aquele dia. Estavam debaixo da mesa, comunicando-se através de latidos e arfando com as línguas para fora. Ela era um cachorro bem feliz. De onde estava, podia enxergar a cozinha e a pequena lavanderia. A luz amarelada deixava tudo com cara de verão. Era uma boa sensação estar no verão aquele dia. Recorda-se de olhar para frente e ouvir o som da cabeça da mãe e da máquina de lavar roupa. A cabeça dela era jogada para frente e para trás com tanta violência, que não sei como não se partiu. Ela não podia fazer nada. Afinal, hoje era um cachorro feliz. Seu primo ria baixinho sentado ao seu lado, como se sentisse prazer com a cena. A menina também tentou rir, mas não conseguiu. Então, sorriu e deu um latido colocando as mãos miúdas rente ao queixo, como se fossem patas. O barulho continuou. Ela não sabia se a mãe gritava. Não ouvia os gritos, somente a cabeça. Para frente e para trás era arremessada contra a Brastemp branca. A mãe orgulhava-se da Brastemp. Odiava lavar as roupas na mão. Sempre odiou. Não se importava em acordar mais cedo para limpar a casa enquanto todos ainda sonhavam em suas camas. Nem mesmo de cozinhar, lavar, cuidar, brincar com a filha depois do trabalho, costurar. Nada disso importava. Lavar roupa, por sua vez, era o pior!
A infância da menina sempre foi rodeada de sons. Sempre ouvia o barulho da casa, a conversa dos vizinhos, a briga dos pais, o choro da mãe e o som dos passarinhos de manhã. Mas o barulho que mais gostava era o do rádio. Ela amava música, herança paterna. Ouvia de tudo um pouco: mpb, samba, rock, chorinho, Xuxa. Estava sempre cantando algo pelos cantos da casa. Queria ser cantora. Foi assim que apaixonou-se pelas palavras. Elas nunca fizeram muito sentido, antes disso. Palavras eram só palavras e nada mais. Nunca eram interessantes ou faziam rir. Mas quando realmente ouviu música pela primeira vez, seu peito deixou de bater calado e todos os sentimentos afloraram-se, desfazendo seu mundo em mil pedaços e recompondo-o em entusiasmado contentamento. O pai sempre contava histórias a ela. Conversava sobre todas as palavras que compunham as letras das músicas, seu contexto histórico. E tudo que ele sabia, ela sabia também.
Gostava da ausência do som. Sempre que a quietude era muita, podia perceber o mais baixo ruído. Mas tinha pena do silêncio, pois era muito frágil. Qualquer coisa rompia-o, rasgando-o com uma violência absurda. Sua vulnerabilidade era assustadora e sempre temia o que escutaria quando o silêncio morresse. No escuro do quarto da menina, o vazio sempre imperava. E fechada naquelas quatro paredes, costumava procurar pela calada da noite, para poder ouvir os sons que vinham do quarto dos pais. Ela ficava lá, parada, deitada em sua cama, empenhando-se ao máximo para ouvir se além dos berros embriagados do pai, havia algum som de pancada. Quando a aflição era muito grande, e não conseguia acalmar-se, defrontava o corredor negro. Tinha muito medo dele, mas tinha mais medo dos frutos que o pai plantava nas noites desequilibradas em que bebia. Em seus olhos infantis o corredor alongava-se infindavelmente. No escuro, suas paredes brancas tingiam-se em preto e o espelho, no fim do corredor, desnudava toda sua coragem, desfigurando os móveis em rostos medonhos. Saltava da cama, com toda pressa, apavorada pelos mistérios que arrastavam-se debaixo de sua cama. Colava seu corpo junto a porta e esgueirava olhares arregalados pelo corredor. Corria na direção oposta ao espelho e colocava o ouvido na porta dos pais:
— Sua prostituta! Hoje você não dorme, sua vagabunda. Puta. Piranha asquerosa.
Nessas horas, o corpo da menina sempre tremia. Seus dentes sempre começavam a ranger, mas ela não sentia frio. Ela adorava o pai. Era seu melhor amigo. Mas não em momentos como aquele. Sempre era daquele jeito quando bebia.
Os dois brincavam bastante e divertiam-se muito juntos. Assistiam filmes, ouviam músicas e dançavam. Nos finais de semana, o pai pegava a moto e partiam felizes para desfrutar do sol. Geralmente, visitavam o parque, o cinema ou o teatro. Ela adorava. Lembra-se bem de “bonequinha de pano”. Gargalhou, chorou e vibrou com a peça. Encantou-se imensamente com a história e os personagens. Implorou pelo livro, que o pai comprou de prontidão. Depois disso, convenceu-se de que precisava do autógrafo do Ziraldo e encarou bravamente a gigantesca fila. Estava satisfeita.
O pai também levava a menina nas rodas de choro aos sábados de manhã. Estacionavam na rua das motos e de lá seguiam o caminho a pé. Enquanto andavam, conversavam sobre a escola, meleca, desenhos e o que comeriam mais tarde. Ao chegar, sempre namoravam os instrumentos musicais nas vitrines. Mesmo antes de entrar na sala, já podia-se escutar o som da flauta, que exibia-se formosamente tocando Pixinguinha. A sala era quadrada, com algumas fileiras de bancos de madeira encostados nos cantos. Do lado direito, perto da parede, cadeiras brancas de plástico formavam uma roda. As pessoas traziam seus instrumentos, sentavam-se, e tocavam em conjunto. Nas paredes, haviam grandes painéis com fotos e um gigantesco quadro verde com caricaturas de diferentes artistas. Com os sentidos enfeitiçados, a menina deixava embalar-se pelos sons da sala. E, num piscar de olhos, ela já não era mais ela. Não existia mais menina, ou pai, ou mundo. Só existia a música, e um forte sentimento de pertencimento. Quando saíam do lugar, corriam famintos para o Estadão. A menina pedia um prato que viesse arroz à grega e batata frita. O pai, indeciso, costumava optar pelo saboroso sanduíche de pernil. Conversavam enquanto comiam e o pai ensinava-lhe que o capitalismo era um sistema fracassado. Dizia que a busca deveria ser pela igualdade e justiça, e não o acúmulo desenfreado. Eram parecidos, e, naquela época, ela não queria que o espelho se quebrasse.
O pai adorava os finais de semana, ficava alegre. À tarde, perdido em seu entusiasmo afobado, visitava todos os bares do bairro. Entre um gole e outro, puxava assunto sobre futebol e política. Gritava aos “companheiros” que a solução era o povo no poder, para acabar com a tirania dos opressores. Escorado no balcão, pedia fichas para a sinuca e desafiava todos que tivessem ouvidos para escutar suas provocações. Entre um copo e outro, ria dos ignorantes, esbanjando seus conhecimentos adultos. Falava alto e discutia o cenário político com fervor, em uma insistência atrapalhada. Entre uma garrafa e outra, quebrava um copo ou outro, gaguejando as letras de Pink Floyd e abraçando os amigos, velhos companheiros.
À noite, voltava para casa. Procurava na cozinha a quentura do fogão. Não havia tempo para pratos, comia da panela mesmo, babando febrilmente. Seu rosto, vermelho e inchado, descompunha-se em movimentos lentos desnorteados. Soluçava continuamente. Quando terminava de comer, chamava a esposa. Não era preciso muito para que surgisse uma briga. Ele tinha olhos vazios e a boca cheia de rancor. Não se importava com quem ouviria ou machucaria. Gritava como louco, abusando de seu extenso vocabulário de xingamentos. A menina sempre ficava assustada. Não sabia ao certo o que deveria fazer. Mesmo assim, seu corpo sempre movia-se antes que ela pudesse pensar à respeito. Corria para perto da mãe e enfrentava o pai, tentando defendê-la.
— Você está vendo o que você fez, sua puta desgraçada? Você agora vai ficar jogando minha filha contra mim? Você não tem vergonha não, piranha?
Esbravejava com o pai, dizendo que o odiava. Falava que nunca mais queria vê-lo ou falar com ele. Ainda assim, não o odiava quando criança. Sentia raiva, é claro, mas não ódio.
— E quem disse que eu gosto de você? Você acha que eu ligo se você me odeia, moleque? Fica defendendo essa puta da sua mãe.
Apesar de negar, sentia-se extremamente triste quando o pai dizia odiá-la. Afinal, ela adorava-o, mesmo com as brigas. Também não gostava quando a chamava de moleque. Na verdade, achava aquilo bem irritante. É claro que ele sabia disso, por isso a chamava assim.
A menina recorda-se que, certa vez, o pai disse que mataria a mãe. Naquele dia, havia bebido muito. Ele queria machucá-la. Já era tarde e, cansado de xingar e estraçalhar as coisas, resolveu calar-se e ir dormir. A menina, chorosa, deitou-se no sofá-cama que havia no quarto dos pais. Estava cansada e com sono, mas não podia dormir. Em delírios sonolentos, convenceu-se de que o pai enfiaria palitos de dentes nos pés da mãe, caso ela dormisse. Era incapaz de pegar no sono sabendo o que aconteceria. Imaginava que acordaria e eles estariam sangrando, com os finos palitos de madeira cortando sua carne nua. Decidida a vigiar os pés, manteve-se acordada por muito tempo depois de os pais já estarem dormindo.
A mãe era muito brincalhona. Gostava de conversar com todo mundo, os vizinhos, os parentes, os desconhecidos, todos. Sempre brincava de boneca com a filha quando voltava do trabalho. Tinha energia e disposição de sobra. Mas, ainda assim, era muito triste às vezes. Em um dia qualquer, quando os ombros da mãe ficaram pesados e seu corpo marcado, conversou com a menina. Contou que conhecia uma garota que escreveu uma carta para o pai, que bebia muito, pedindo que ele parasse, porque se sentia muito triste e ele largou a bebida, pois amava muito a filha. Pediu à menina que também fizesse uma carta. E, então, ela pegou seus lápis de cor e pôs-se a trabalhar. Estava eufórica. Como não havia pensado nisso antes? Esforçou-se ao máximo, desenhou rostinhos tristes e borboletas, mas de nada adiantou. O pai também escrevia cartas para a menina, cartas de desaniversário, pedindo que ela tivesse paciência com os adultos, pois ainda eram muito crianças.
Era paciente e muito calma, diferentemente da mãe, que apesar de brincalhona, parecia muito brava. Era difícil, pois estava sempre reclamando de algo. Reclamava da casa, da bagunça, da vida, do cabelo, da sujeira do cachorro, de tudo. Com o tempo, a menina percebeu que a mãe até que tinha um pouco de razão. Passou a entender melhor que precisava ser mais responsável e organizada. É claro que as reclamações continuaram. Afinal, há uma grande diferença entre entender o problema e fazer algo à respeito.
Carinhosamente, ela busca em sua caixa de memórias quando foi ao cinema com a mãe assistir A Viagem de Chihiro. Ela tinha apenas sete anos, mas encantou-se com tudo, a gigantesca tela, as poltronas enormes para seu corpo pequeno, o cheiro de pipoca, a ansiedade enquanto as luzes da sala ainda estão acesas, a euforia quando se apagam e a mescla de sentimentos quando voltam a acender. A menina estava fascinada. Não sabia explicar o porquê, mas sentia as lágrimas escaparem, rolando por suas bochechas rosadas. A mãe, por outro lado, não saiu nem um pouco satisfeita da sala. Reclamava sem parar que não havia entendido coisa alguma. O filme não tinha pé nem cabeça e era todo esquisito. A menina também não entendera muita coisa, mas havia gostado.
A menina crescia e descobria cada vez um pouco mais sobre os mistérios do mundo. Já sabia lavar roupa, fritar ovo e fazer contas. É bem verdade que tinha dificuldade em decorar a tabuada, mas contava nos dedos e sempre dava certo. A mãe ralhava com ela e ficava um tempo, que pareciam horas sem fim, perguntando todas as respostas das contas. Ela odiava, mas não resistia muito. Sabia que de nada adiantaria, e também tinha pena da mãe.
— Você tem que estudar. Eu não te peço pra lavar, passar, nada disso. Sua única obrigação é estudar. Na minha época, eu levantava cedo e andava mais de uma hora pra chegar na escola. E você acha que minha mãe levantava pra dar de comer aos filhos? Nada disso. A gente saía com fome. E ninguém reclamava, porque a gente queria estudar. Se dependesse do meu pai, nem isso a gente fazia, só trabalhava na roça. E na volta, vinha no sol quente, morrendo de fome e de sede. A gente saía era correndo, pra chegar nas poças de água antes dos bois, pra não pegar a água tão barrenta.
A menina já sabia daquilo, é claro. Ouvia sempre aquele discurso. E continuaria a ouvir por muito tempo, até que viesse a vez de sua irmã, que nem nascera ainda, de ouvir aquelas palavras. Apesar de achar um pouco triste, gostava daquele sermão, pois parecia uma história distante. Divertia-se ouvindo sobre a infância da mãe. Era uma infância dura, mas a que tinha para contar.
— Você tem que estudar o português, para escrever correto. Não tem coisa mais bonita. Tem que saber escrever e estudar, para nenhum homem te humilhar na vida. Você acha bonito seu pai me chamando de analfabeta? De empregada? Então, tem que saber falar o português correto.
Não sabe bem ao certo como tudo aconteceu. Mas entre um beliscão e outro, a menina não ia mais ao cinema com o pai. Todavia, saia muito com os amigos que moravam na mesma rua. Jogavam truco, baralho, tapão, mãe da rua e riam dos adultos apressados. Entre um tapa e outro, a menina não lia mais cartas, nem dançava ou cantava. Só quando estava sozinha, trancada no quarto cor de rosa. Ria alto lá dentro e escutava as trilhas sonoras de seus filmes favoritos. Entre um murro e outro, a menina calou-se. Entre um xingamento e outro, quem é esse estranho sentado no sofá?
A mãe era uma puta, ela também o era.
Não se importava mais.

Crédito da imagem: Composição original de Victor José Ferraz da Silva
Capítulo do livro: “Cantos de puta, de mulher e de berço“