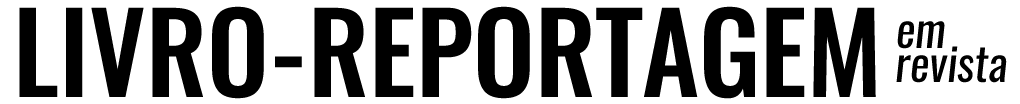Suor. Estávamos derretendo de calor e uma certa ansiedade voraz de soltar os cachorros com todas as indagações possíveis. Vontade de tocar sua pele e trocar olhares, tentando penetrar naquela mente de aço e desvendar seu sorriso de teores cabalísticos e fazer corar as maçãs daquele rosto, que gozavam de uma palidez cadavérica, porém tenra; macias como a textura das gueixas e vivas feito bolhas em uma garrafa de Coca-Cola. Nós estávamos ansiosos por sua presença. “Nós”, seríamos eu e meu par de botas pretas, apelidadas carinhosamente de Hank e Django (direita e esquerda).
Rebobinando.
Noite difícil. Chegando em casa um tanto bêbado e buscando pessoas na agenda para esbravejar; amaldiçoar; empalar com minhas palavras típicas de subversivo. Sua janela pisca ao pé do monitor e toda pseudo-fúria escorre pelas barras das calças, dando lugar a uma ternura em um coquetel de saudades. Ziegler. Giovahnna Ziegler. Ex-colega de faculdade. Tinha seu próprio casulo, é verdade, mas sua presença emanava uma aura de coisas boas, como goma de mascar; piqueniques; solos de guitarra; Buda. Era possível enxergar toda sua raiva controlada e regida por algum mantra que era de se apostar que repetia todos os dias antes de sair de casa.
Digo-lhe que não sabia o motivo que a fez largar o curso, mas que ia sentir falta de alguém com um cérebro por lá e, já que estava sendo sincero, exaltei como era absurdamente linda, mesmo isso sendo um tanto óbvio. Não poderia morrer sem expressar aquilo. Giovahnna abandonou o curso quando sua renda ficou escassa. Fez um pequeno intervalo, voltou ao Rio de Janeiro (sua cidade natal), estabilizou-se, retornou ao cinza de São Paulo desejando provar que tinha aprendido alguma coisa, porém a reitoria não a permitiu retomar as aulas; mas que mesmo assim, ela me visitaria qualquer dia e faríamos protestos, um de seus hobbies. Era bom que ela fizesse isso mesmo, eu tinha de presenteá-la com uns óculos escuros, cujas lentes violeta certamente combinavam muito mais com seu rosto do que com o meu. Seu rosto e corpo, ambos de uma modelo aposentada, em seus quase vinte e três anos de estradas tortuosas, marcados por viagens, cicatrizes e tatuagens, que rimavam para compor o campo elétrico que rondava seu fino e quente dorso.
Trocamos temas, como o do livro que contou que escrevia e o que eu já tinha escrito. Ziegler acalentou-me por ter vontade de lê-lo, e refleti sobre meu estilo duro, supondo que ela não se chocaria com isso. Estava escrito em sua face, nas suas roupas e no nariz pontudo que era seu habitat. “I like violence. Na verdade eu faço coleção de Pulp Fiction; todos esses livros de banca de jornal de teor agressivo, eu faço”, conta. Concluo que somos um certo tipo de doppelgangers um do outro, porém ela com progesterona, embora eu soubesse que seus colhões eram muito maiores do que os meus. “Eu gosto do podre, mesmo. Tipo… podre”.
Comparo-a com uma personagem de uma série, tão bonita quanto, e uma fiel apreciadora de scotch, mas concordamos que sua cara gritava “Gim!”, e revela-se que havia mais disso em suas veias do que a própria água. Tínhamos muito sangue na corrente alcoólica.
Seu livro em andamento era sobre entender o mundo e como burlá-lo, porém sem muito esforço devido ao fator preguiça, pecado que cometia em grande escala, castigada talvez pela maldição da insônia, para a qual ela não dava a mínima. “Não ligo. Foda-se mesmo, vou ser foda, aí terei tempo de dormir”. Teríamos cabelos brancos antes de todos, que só funcionariam como charme se fôssemos Meryl Streep e George Clooney.
Indago se não seria muita petulância minha nos encontrarmos brevemente, talvez para alguns copos de gim, uma caminhada fria durante a noite a mercê da sorte. Ela seria um personagem perfeito. Não só para mim, mas para qualquer filme de Fellini, Kubrick ou Woody Allen (seu parceiro de kipah). Ziegler aceita a oferta, mas declina minhas condições de um passeio mais obscuro, contrapropondo meu Rock’n’Roll por uma bossa nova e sugerindo um almoço kosher em seu trabalho. Ensinou-me o caminho para chegar até o Hebraica, e tínhamos uma data marcada.
E agora eu suava, sem ainda nem me aproximar da sauna do clube.
Mudança de planos. Combinamos nossa trombada em uma cafeteria de shopping, e os momentos em que sua presença ainda não se revelava foram de angústia; de não fazer ideia por qual lado viria, se me assustaria por trás ou se já nos reconheceríamos de longe, brotando assim uma sensação de mal-estar, aturando aquele momento em que seus passos se aproximariam, sem saber que tipo de cara fazer. Ao lado, uma moça tirava foto de seu cookie com o smartphone. Lamentos. O pensamento que surge era se Giovahnna apareceria de preto. Se sim, sofro por ela, visto que lá fora tremulavam uns trinta graus. Definitivamente seria preto. Não havia escolha, era sua cor. Se fizesse recurso de outras, iria usá-las em seu olhar lancinante, capaz de cortar troncos de sequoias centenárias e postes de energia como sabres de luz de George Lucas. Minhas falas iniciais perdem-se na memória feito lágrimas na chuva, graças aos tantos moedores de café ao redor. Fuck, suor.
Ela adentra a cafeteria como um cometa em câmera lenta, caminhando tímida e com os braços semi-cruzados, carregando uma jaqueta de couro que certamente não teve coragem de usar pela calçada que a trouxe. Oferece o rosto, beijo-o. O cabelo preso por trás, com algumas mechas caindo-lhe sobre os olhos (sabia o poder daquilo); uma blusa fina quase porosa, listrada de cinza-escuro e preto, com um pequeno capuz jogado de lado; com desdém em seu antebraço esquerdo dormia seu jaquetão, considerado “da sorte”. Calças jeans azul escuras e justas (porém ainda um tanto folgadas pelas pernas magras) e um par de All Star vermelho. Vermelho sangue, vermelho muleta de tourada.
E sem brincos, sem lápis nos olhos, sem cílios altos ou batom. Estava nua de alegorias.
Algumas palavras são trocadas e damos início a uma caminhada, aparentemente sem rumo. Pergunto se vamos voltar ao seu trabalho no clube e comer algo por lá, e a resposta é negativa. Ficaríamos onde estávamos, fumando charutos, ingerindo junk food, o que fosse. Sugere então, como uma boa anfitriã, uma cervejaria no andar de cima. Não há como discordar. O silêncio que se seguiu era de deixar qualquer um eunuco. Palavras simplesmente não emergiram de nenhum dos dois, apenas imaginando quais outros tantos lugares estariam melhores do que o presente naquele momento, até que ela aponta uma modelo em um cartaz e revela que é sua prima.
Uma mesa de quatro assentos. Acomoda-se. Levanta-se. Vai até a gôndola e começa a decidir-se sobre qual fermentado tomar. Eu a acompanharia no que ela desejasse. Indaga-me sobre minha vontade e repasso a bola para ela, que devolve com um chute de bico. Agarro e escolho um chopp alemão, cuja dose vinha em copos de meio litro. Ordenam-se dois deles e uma porção de amendoins. Belo almoço.
Ziegler pergunta-me sobre o pessoal de sua antiga universidade. Não há pessoal. Sumiram. Metade perdeu-se na noite, outros debandaram para enfermagens, administrações. Ela agora está em uma faculdade mais barata, onde faz um curso extra de Letras. Solta um suspiro um tanto exasperada. Vive em um meio exigente há muito tempo, trabalha desde os quinze, passando até por uma empresa italiana representante do New York Times na América Latina. Agora, com um pouco de felicidade inegável, trabalhava em um lugar que lhe dava liberdade de escrever o que quisesse, além do que precisava escrever. No clube, deixa suas letras nas revistas que circulam por lá, faz pesquisas e entrevistas e cuida dos guias. Cara feia para este último.
Ao menos tem tempo livre para dedicar-se ao seu livro, prioridade no momento. Está orgulhosa de si mesma. Mais de oitocentas páginas, até agora. Digo que a odeio, mas ela conforma-se e duvida que quatrocentas dessas folhas sobreviverão. Seu tema é “quase filosofia”.
O rapaz chega com nossas bebidas: dois copos longos e esguios, e uma pequena cumbuca de amendoins brancos. “Que bonito esse chopp”.
Ela ameaça beber, porém proponho um brinde antes. Ao seu livro, e aos meus oito mil caracteres. Damos um gole prolongado, tentando absorver mais do que simplesmente espuma. Ataca os amendoins.
Giovahnna começou a viajar em Dois Mil e Dez, pela Itália, onde moram sua mãe e seu irmão caçula. Fez um tour pelo sul, e em Dois Mil e Onze concluiu o restante da bota, desde Roma e Milão até velhas cidades esquecidas que já foram invadidas por piratas. A fantasia pairava em sua cabeça hollywoodiana, acentuada também pela máfia da Sicília. Foi a lugares que abrigaram um nazismo muito forte, que têm suásticas nas paredes até hoje.
Ainda nesse ano, foi inundada por uma vontade de fazer um turismo judeu, quando todos vão à Polônia e Áustria para ver campos de concentração. Na Alemanha conheceu pessoas que sobreviveram ao holocausto, e o filho de Filinto Muller (sujeito que perseguiu Olga Benário), que se apaixonou por ela.
Sinto-me um péssimo jornalista por ter de ser avisado que o tempo de meu gravador já foi estourado, mas diz-me que é normal, tem um cronômetro bem afiado em sua cabeça.
Ziegler apaixonou-se bastante pela Alemanha, não pelo filho de Filinto. Desceu a um campo de concentração com mais trinta judeus, que se reduziram a apenas oito concluindo a missão. Uma cruzada desgastante emocionalmente, mas acredita que precisava saber que ainda existe gente que quer eliminar seu povo. Mais do que nunca, talvez. Atualmente, é mais perigoso um judeu ser exterminado. Hitler e o Eixo conseguiram caçar seis milhões deles em quatro anos, e agora um único comando pode matar oito e meio. “Israel é um ovo, e essa tecnologia existe”.
Seguiu então para Amsterdã, visitando a casa de Anne Frank em Roterdã e daí regressando ao Brasil. Em Dois Mil e Doze desembarcou em Israel. Em quinze dias, por um programa do governo, conheceu tudo, do Mar Morto a Jerusalém. Visitou pontos onde quem usa saia acima do joelho é apedrejada e passeou por Tel Aviv, a terceira maior cidade gay do mundo. No ano em que corre, ainda está em dúvida para onde fugirá: entre Nova York (parando com os guias históricos e indo para a Broadway, fazer uma coisa menos Cult), ou Londres, porém tem receio de nunca mais retornar. Conta que já viu o que queria ver, teve explosões de conhecimento e foi muito diferente do que supunha. Desceu ao inferno como judia e não-judia, e houve diferença. “Uma vez, na Alemanha, me caguei de medo”. Voltava de um dos campos em um trem, sozinha, apenas acompanhada de alemães típicos Augustus Gloop: gorduchos loiros de suspensórios, com as bocas lambuzadas de salsichão e chocolate, como os meninos estampados nas caixas de Kinder Ovo. Havia dois caras gigantes em sua frente. “Então, você é judia, não é?”, murmuraram. Ela disfarçou. “Seu nariz, sua cara… É bem judia”, completaram. Seu esfíncter latejou por um momento, até os rechonchudos revelarem ser apenas petulantes de passagem.
Giovahnna argumenta que, existe sim, uma “cara judia”. Devemos lembrar que o judaísmo nasceu em uma tribo onde todos já se conheciam e relacionavam-se entre si, misturando assim uma genética. É criado um estereótipo.
Até meados de Mil Novecentos e Quarenta e Oito, judeus eram apenas judeus. Depois da Segunda Guerra ocorreu uma separação, com alguns ficando ainda mais radicais quanto às suas origens, e outros a negando. Agora existe uma miscigenação, mas nessa mistura aquele gene ainda é dominante, percorrendo cinco mil setecentos e setenta e quatro anos. Pergunto se tenho uma “cara judia”, e descubro que não, a menos que tivesse olhos verdes. Insisto que os possuo, mas ela bate o martelo no azul.
Quando Giovahnna vai à sinagoga, de todas as judias (apesar de parecer-se com elas), seu rosto é o mais suave. Ela corta o cabelo e faz a sobrancelha de um jeito que funciona. “Judeu tem pelo pra caralho”. Seu cabelo, teoricamente é ruim, segundo suas palavras, mas sofre mudanças. Não é uma negação de ser judia, mas ao olhar-se no espelho é sempre acometida pela pergunta: “Será que ficarei bem assim?”.
Ziegler mudou muito da sua época como modelo, sendo apenas intocável seu queixo milimetricamente esculpido e furado, sua marca registrada. Ela reflete que sua aparência naqueles velhos tempos era indubitavelmente junkie.
Ela chacoalha seu copo, como se não quisesse que seu líquido adormecesse.
Giovahnna nunca quis ser modelo, mas sim atriz. Sua mãe a induziu a fazer comerciais utilizando-se do argumento de que uma vez sendo famosa, ela levaria as pessoas ao teatro, e não o contrário. Na ocasião, aos treze anos, fez sentido. Foi colocada em uma agência (que também trabalhava com modelos) que ia ensiná-la a falar; portar-se; treinar a dicção; enfim. Sua professora de boas maneiras (uma atriz musical e um ícone em seu julgamento) colocou-a aos poucos em trabalhos fashion, e uma coisa levou a outra. Notaram-na. “Ela é diferente. É a mais baixinha (um metro e setenta e um), mas a mais magrinha e com mais personalidade”.
Sempre foi esquálida. Não comia carne, mas depois que colocou um pedaço de hambúrguer na boca não conseguiu mais voltar ao vegetarianismo.
Foi então subindo degraus, tinha seu estilo: não era loira de olhos claros e tinha um narigão, mas isso a ajudou. Ainda não consegue entender porque a encaravam como “brava”, sendo que sempre foi muito profissional. Talvez por falar muito suas verdades, não tendo medo de pregá-las. E assim entrou no “Brazil’s Next Top Model”.
Logo que entrou no reality e conheceu as outras meninas, já rolaram brigas (das quais ela não foge) por ter revelado que namorava uma garota. “Nunca ninguém ali tinha cogitado em ouvir algo assim”, encolhe os ombros. Foi um choque para todos. Até para os jurados. “E eles são gays!”.
Fora até perguntada se sua namorada não se incomodava por estar convivendo diariamente com tantas belas meninas, porém nenhuma delas fazia seu tipo. Gostava de garotas “normais”: com celulite, mulheres de verdade, ela afirma (e, ironicamente, um ano depois iria se relacionar com uma top model). Foi a primeira brasileira a assumir em um programa de TV que gostava de mulher. “Agora todo mundo faz, já é cool”.
Giovahnna permaneceu bastante tempo no programa, ficando em quinto lugar. Segurou-se no meio por mais algum bocado, para manter seu cursinho, até fazer uma campanha da Levi’s, que a levou até Milão. Esse trabalho nunca chegou ao Brasil, circulando apenas na Europa. Ela refletiu que, em questão de currículo, não gostaria de fazer nada menor que aquilo, então fechou ali, parando em seu auge. A febre já tinha passado, seu dinheiro já estava ganho (e foi com ele que viajou durante dois anos seguidos).
Balançou o copo novamente. Nesse ponto derramou amendoins na mesa e pelo chão pela terceira vez. Acuso-a de embriaguez. “Tô com fome! Esse é meu almoço, presta atenção no que você faz comigo”.
Em outras vidas, Ziegler teria sido uma ótima boxeadora ou gladiadora. Talvez fosse membro do (nem tão) secreto CLUBE DA LUTA. Sua cicatriz no rosto, a dois dedos a diagonal do olho esquerdo, conseguiu em uma briga de rua (com um homem). Passava na Augusta e o sujeito lhe falou algo. Até “gostosa” ela engolia, mas não pôde suportar um “te chupo todinha”. Peitou o crápula, um baixinho de camiseta rosa, e desafiou a bater-lhe. E ele obedeceu. Desferiu um soco com um caco de vidro na mão e acertou-a. Um rapaz do movimento punk ajudou-a, e foi parar no hospital, atingido no pescoço por uma garrafa de cerveja quebrada, quase na jugular, e o pequeno Don Juan Escrotón foi indiciado por tentativa de homicídio. Digo que talvez por tentativa de estupro também. Ela ri. Em seu íntimo, eu tinha certeza de que estimava aquela marca, como uma lembrança de guerra, uma Scarface moderna.
Derrubou mais amendoins, e a provoquei alertando que já estava bom de cerveja.
Seu sonho é conseguir viver sendo uma escritora. Faz pesquisas para seu livro, sua história, sua filosofia. O que ela admira em sua escrita, o que considera uma coisa peculiar, é justamente a falta de estereótipos e o fato de colocar em suas páginas uma questão de conteúdo sem a menor pretensão de ser Cult ou falar difícil. “O jornalismo que eu penso em fazer é… Sabe Road Trip/ On The Road? É bem isso”. Não precisaria necessariamente parar no México; poderia ir a Osasco e comparar as realidades.
Ali um pequeno feixe de sol bateu em seu rosto. Suas maçãs saltaram ligeiramente, embora suas bochechas fossem um tanto chupadas para dentro. Suas olheiras recitaram um poema hedonista e notei que, nem no momento em que piscava os olhos sua mente gozava de uma paz pura. Era reparável que ao fechar as pálpebras, ainda era atormentada por flashes de suas próprias crônicas, e por uma interminável autocobrança de si mesma. Megalomaníaca.
“Sou um pouco suicida. Trato isso faz um tempo. É aquele tipo de coisa, se eu não fizer algo grande não quero fazer mais nada”.
Não é questão de ser suicida. É alguma coisa em relação à vida, ser apática a ela. Não gosta daqui, não acha graça nenhuma em viver. Não se encanta com as cores de uma flor ou a magia da lua. Seus prazeres são físicos, não psicológicos ou mentais. Na maioria das vezes consegue lidar com qualquer coisa, e às vezes isso é insuportável. Em toda sua sociopatia, tem empatia por pessoas que conheceu e ajudaram-na, e para não ser completamente vazia de sentimentos, os associa com alguém que gosta, conseguindo então processar o que sente. Para que raios serve essa história hippie de que todos viverão em paz e harmonia? É muito mais difícil, prefere o isolamento.
Minha personagem odeia qualquer coisa que não seja mais que magnífica. Não se contenta com a vida que tem e o povo ao seu redor revolta-se, como se ela reclamasse de barriga cheia. A “magnitude”, para ela, era em parte fazer o que sabe (escrever), criando uma coisa útil, afetando as pessoas, e não apenas mais um entretenimento. Era isso, ou teria mais uma crise existencial. Não tem a pretensão de ser imortal, deixar seu nome escrito na história. O que a chateava era saber que não viveria o suficiente para assistir à mudança que queria ver. Isso a faz pensar que nasceu na época errada. Não que quisesse ter nascido em Mil Novecentos e Sessenta e Nove, para ir ao Woodstock. “Se bem que aí eu teria zero anos. Teria que ter nascido em Quarenta e pouco”. Hoje vê um regresso, e acha melhor tentar reproduzir o que já foi dito do que querer reinventar tudo novamente.
Se não fosse ela mesma, Giovahnna não sabe quem gostaria de ser. Precisou pensar nessa pergunta. Considerou Meryl Streep, para ganhar um Oscar todo ano e ficar bem de cabelos brancos. “Eu não seria ninguém. Eu seria eu em um outro lugar, onde eu tivesse a oportunidade de ser mais eu do que eu sou”.
Meu cérebro trava por um instante. Ela repete a frase. No fim das contas, queria ser uma versão de si melhorada. Uma Giovahnna dois ponto zero, V-Oito para cima.
Ela não crê em Deus. Não da forma como a religião faz. Discutir um ser sobrenatural com palavras, com gramática, era a coisa mais idiota do mundo. Pessoas estudam anos sobre Deus para depois defini-lo com letras. Babaquice. Se dizemos que Deus é um cara que criou o homem do barro e que controla a vida de todos, somos estúpidos. Se falamos que Deus é uma força superior a nós, temos que ter calma, pois isso é contraditório. Existem muitas forças superiores a nós, como o Sol; meteoros; vermes; doenças; tudo. Tudo nos mata. Não acredita em nada, pois daqui vamos para debaixo da terra e encontraremos a paz, enfim; sem mais dor e sofrimento. Não há céu, não há um paraíso repleto de vinho e chocolate.
Há algum tempo, Ziegler declarou que se viesse a se apaixonar por um homem ou uma mulher, não ficaria “com frescuras”. Já gostou de homens, e a diferença só estava no sexo. Ela aprecia o sexo com mulheres porque gosta de fazer. Ser ativa, dar mais prazer do que receber. Não importava se isso era uma doença, se havia “cura gay”. É possível curar um canhoto colocando sua mão esquerda para trás quando criança e o forçando a usar a mão direita. Isso era feito na inquisição, pois também era pecado não ser destro. Mas ela não precisa mudar. “Sou só uma pessoa diferente, que os humanos não entendem”, reflete; concluindo que faria mais sentido viver com os seus, em bando, como os animais. Seria mais legal e ninguém precisaria bater com lâmpadas ou assassinar membros de outros bandos.
Atrás de sua Estrela de Davi, em um mesmo cordão adornando seu pescoço, carregava a miniatura de uma Mesusah, oração em pergaminho colocada dentro de uma caixa e pregada nas portas das casas dos judeus. Dependendo da ascendência da família, é posta em posições diferentes. Comprou este auto-presente em Israel, mais por sua beleza do que pela religião. Revela que é uma das coisas mais bonitas que já viu na vida, e pagou setenta e cinco reais nela. “Pra mim, que sou judia, foi bem caro”, esboçou um sorriso. Aparentemente era dispendioso seguir a religião. Já tentaram assaltar-lhe o objeto, mas correu atrás do sujeito para recuperar seu mimo.
Sua primeira tatuagem, do Led Zeppelin (sua banda favorita de todos os tempos), na lombar, foi feita aos vinte e um. Ela costumava ter um grupo de amigos, uma garota e dois rapazes, irmãos. Passavam os dias trancados no quarto jogando Zero Zero Sete no Nintendo Meia Quatro e escutando Led e Pink Floyd. Os dois sempre fumando maconha, e não entendia (juntamente com sua amiga) o motivo de acharem tanta graça naquilo. Eram inocentes e os garotos não dividiam a erva, não por serem bonzinhos e protetores, mas por puro egoísmo. E foi a fase mais feliz de sua vida. Não era bonita, nem popular. Não tinha nada. Não tinha ideia do que a esperava. Fez a tattoo em homenagem aos quatro; não só aos membros da banda, mas às pessoas que ficavam ali naquele quarto. A segunda é uma arte de Banksy, de uma menininha soltando um balão vermelho, no caso representando sua mãe e irmão partindo para a Itália; registrada em sua costela esquerda. No final do mês que corria, ele escreveria “Fratello” (“irmão” em italiano) ao lado do balão. Em seus dois pulsos reinava uma tatuagem quebrada: no esquerdo, batimentos cardíacos mortos, tornando-se pulsantes no direito.
E a tatuagem da Amy era a coisa mais engraçada do mundo. Eu nunca reparara que se tratava da Winehouse. E ela ainda não estava pronta. O fato é que tinha em mente tatuar o rosto de alguém morto. Se optasse por um homem, seria James Dean, mas ela queria cabelo, maquiagem, a porra toda; e no momento em que a agulha tocou sua pele, arrependeu-se. Escorriam lágrimas de seus olhos, de dor e remorso, e teve uma epifania: transformar aquilo em Elphaba, personagem de seu livro favorito, Wicked (Gregory Maguire), sobre a Bruxa Má do Oeste de Mágico de Oz. Pintaria aquele rosto de verde, faria um chapéu e o que fosse. Um ano se passou e o desenho ainda não fora terminado, não por medo ou preguiça, mas por delicadeza, visto que sua pele demora a cicatrizar e cada sessão (das quatro que precisava) deve ser feita a cada três meses.
Digo que sua pele era praticamente um copo de leite em pó. A essa altura eu já estava folgado com ela.
“Eu costumava ser mais vampira, hoje sou mais lobisomem”, sorriu. Confesso que não compreendi a piada, mas ri por solidariedade.
Relembra sua fase careta e, repentinamente, questiono se depois teve contato com drogas. “Todos”. Sugiro fazermos uma lista. Ela me propõe a iniciá-la. Ácido. A primeira vez que tomou LSD foi no Rio de Janeiro, na casa de sua avó (uma hippie fantástica, mais pop do que a neta). Uma de suas casas ficava no Recreio, e foi ali que sua amiga lhe ofereceu o doce. Deu de ombros e embarcou. Gostou, foi divertido; coloriu o céu cheio de estrelas e escutou ecos de Lucy in the Sky with Diamonds, porém sua comparsa teve uma bad trip durante dois dias, o que a deixou traumatizada, não usando aquilo de novo. Prefere drogar-se sozinha, desde então.
Uma droga que não lhe faz bem é a Marijuana. Seu pai é um “megalomaníaco esquizofrênico”, dando-lhe essas tendências também. Não é de ficar paranoica, mas, se sem nenhuma droga já encara o planeta como uma chatice só, com maconha tem certeza de que é uma merda. Tudo o que sente de ruim, aumenta. Fica feliz pelas pessoas que conseguem fumar a erva e se esquecem do mundo, mas em seu caso lembra-se dele.
Aponto que também não seria interessante a ela desfrutar da famosa “larica”, pois não podia comer muito. Ela discorda que pode, sim; afinal não era modelo.
Cocaína. “Cocaína é foda, a melhor droga do mundo. Ponto. Ela é boa fisicamente, psicologicamente, e é gostoso”. A farinha era um problema, pois ela gostava, e a fez mal por não simpatizar com a ideia de sua vida girando em torno de um vício estúpido. Não era real, mas era bom. “Te deixa magro, te deixa junkie, te deixa pé-no-chão, mas as consequências não valem a pena”. Isso ela diz com propriedade, pois foi até o fim e pensou “que babaca que eu sou”, pois era como estar dando moral para a vida (o que ela detestava).
Nunca usou Heroína, mas afirma que experimentará, quando viajar para fora do país novamente, na Escócia ou Irlanda. Com certeza se sujeitará a ela, pois a partir do momento em que se abraça uma, tem de tomar todo o resto. Todos podem sair quando quiserem, a menos que fiquem viciados.
Falando em sair quando quiser, constato que preciso urinar. “Eu também”, revela. “Cerveja é ruim por causa disso”.
Faltava o Ecstasy. Ela conta que teve o contato em uma manhã não tão distante, basicamente tomando-o com Sucrilhos. Um sujeito, voltando de uma rave, passava em frente à sua casa e precisava tomar um táxi. Trocava vinte reais por uma bala que tinha na mão. Giovahnna pechinchou quinze. O sujeito topou: “Quinze tá ótimo, eu faço acordo!”.
O rapaz deu-lhe uma bala verde, puta merda concentrada, com um desenho de uma bombinha estourando. Tomou na hora. Tinha enfiado tanta cocaína em seu corpo nos últimos três meses… Isso não faria cócegas. Voltou para casa, trocou de roupa e avisou a todos os presentes: “Ô seus filha das puta! Vou comer um sushi!”. Ela morava em Moema, e foi correndo até a Vila Olímpia, cada passo ecoando um TUM em sua cabeça. Ouvia seu coração e cada músculo de seu corpo contraindo-se. Chegou, comeu o sushi (que parecia ser pele humana em seu julgamento) e foi embora. Era muito engraçado saber o que acontecia ali, estar consciente de estar inconsciente, como quando se está dormindo e de que aquilo é um sonho, mas mesmo assim aproveitar o momento.
“Sei que não estou com a Brigitte Bardot, mas vou continuar”.
A moça citada não faz seu estilo. Seu tipo de mulher é comum, gosta de uma mulher bonita, “competente”; e não só para passar roupa. Aprecia alguém que saiba fazer alguma coisa, e que consiga sobreviver daquilo. Por isso sempre se atraiu por cantoras, atrizes e artistas.
Preciso tirar água do joelho. Giovahnna pergunta-me como interromper a gravação, e retruco para que continue divagando, falando sozinha, mas ela descobre como fazer, e pausa. Quando retorno, noto-a escrevendo em meu caderno. Aviso para não olhar minhas perguntas, e garante que não é culpada, apenas fazia uma lista de famosos que a cativam. Das mulheres, fez seu top com Christina Bianco, Alyson Hannigan, Kate Beckinsale e Neve Campbell. A coluna de homens possuía Ezra Miller, Travis Fimmel e Christian Bale. Ignorei Vin Diesel. Ela conta que, no quesito masculino, sua preferência é por sujeitos magrelos, esquisitos, de aparência andrógina, com algumas poucas exceções.
Minha personagem ainda carrega a aliança de sua ex-namorada no anelar direito. Comenta que nunca mais vai se comprometer com alguém, a menos que seja o cara ou a mulher de sua vida. Não vê mais sentido em um relacionamento se não for para toda a vida.
Deixo para ela o último gole do terceiro chopp (o qual dividimos no mesmo copo), com a lenda de que quem o bebe, não se casa jamais. Ela comemora.
Discutimos sobre quem consegue segurar suas necessidades por mais tempo, homem ou mulher. Concluímos que a última, por ter um encanamento interno que não dói. Dirigiu-se ao toilette, e quando retorna zombo que é mais difícil quando há de sentar-se.
Anuncio que tenho um presente. Seus olhos faíscam por um momento. “Sério?”.
Dou-lhe uma camiseta de uma de suas sitcoms favoritas, sem a certeza de que iria gostar, por ser masculina, mas consolo que poderia usá-la como pijama, porém ela veste no ato. “A gente vai lá no Hebraica buscar o kipah que vou te dar. Prometo. Agora. Você realmente comprou isso pra mim? Amei”.
Quero uma foto sua. Ela sugere mandar-me alguma de seu arquivo pessoal, mas nego. Quero uma foto sua ali e uma foto ao seu lado, provando que nosso encontro de fato existira.
Tiro meia dúzia de fotos suas e, ao fazer pose para mim, transporto-me para outro estado de espírito, constatando que fotografava a mais bela modelo que já havia conhecido. Depois o garçom tira fotos nossas, lado a lado. Uma em especial mirando-nos olho a olho, com uma telepatia magnética transitando entre nossas íris, as minhas azuis sem graça e as dela escuras como potes de Nutella; e nossos lábios não resistiram à tentação de manterem-se sérios, se contraindo em risos involuntários.

Levantamo-nos. Pedimos a conta. Rachamos. Compro mais uma garrafa para partilharmos no caminho. Caminhamos um pouco sem rumo e, num ato petulante, peço para ver seu RG. Ela aproveita e tira algo da carteira, um papel finíssimo, branco com pontos azuis, semelhante às embalagens de goma de mascar, e fala “Ei, olha só o que eu comprei”.
Ali meu telefone toca, e deixo de prestar atenção nela. Tira do papel um objeto retangular e prateado, riscando minha mão esquerda. Não sinto nada. Continuamos andando e, trinta segundos depois, Giovahnna aponta para meu braço e solta um discreto riso sádico. Percebo minha mão começando a encharcar-se de sangue. Tento limpá-lo com minha nota fiscal, porém em vão, já que o melado não parava de escorrer. “Você pode ter acabado de me passar AIDS”, digo-lhe.
“Só usei essa coisa em mim mesma”, responde, “e pelo que sei, não tenho nada”. A julgar pela sua pele e a magreza exaustiva, eu não duvidava muito. “É, eu trepo bastante”, concordou.
Irritei-me por um décimo de segundo, porém a fúria deu lugar a uma estranha ternura, talvez por ter sido julgado bom o bastante para compartilhar de sua lâmina pessoal, do mesmo jeito que dois viciados revezam uma agulha. Éramos outras pessoas. Começamos completamente estranhos, e agora tínhamos cicatrizes semelhantes. Olhei para sua mão direita, que também possuía alguns riscos vermelhos, e questionei se ficaria com marcas iguais às dela. Ela conta que as suas foram um pouco mais profundas, mas que havia uma chance, sim.
Torci calado para que aquela ferida nunca se curasse, como uma lembrança sua aflorada em minha pele. Um rastro seu, eternamente escarlate.
Nossos passos alcançam a rua. Vamos passando a garrafa um para o outro, dando alguns goles. Ela indaga-me se, igualmente o protagonista de meu livro, eu já tinha feito sexo com uma mulher negra. A resposta é negativa. Ela disfarça por instantes e emenda: “Já chupou uma?”. Dou risada. Ela faz mais perguntas, invertendo agora nossos papéis. Fujo de sua mira. Confessamos nossas atrizes pornôs favoritas, e algumas aventuras sexuais. Ménages.
Arrastamo-nos pela calçada como dois bêbados decadentes na sarjeta, e era quase impossível sentir o fedor do rio que se acercava. Demos algumas trombadas inebriadas.
Um carro sai de uma garagem e quase nos atinge. Giovahnna levanta a mão e grita para o motorista, ansiosa por uma desavença. Mais adiante, reivindica novamente pela última gota do gargalo.
Chegamos à sede de seu trabalho, ela vai buscar o kipah. Espero do lado de fora por alguns minutos, ainda tentando estancar minha mão. Ela volta com seu presente em mãos e ensina-me a colocá-lo. “Bar Mitzvah Rafael Einisman- Quinze de outubro de Dois Mil e Doze”.
Pede uma de minhas balas, pois fumaria um cigarro. “Você não disse que odiava cigarro?”, pergunto.
“Disse, mas agora vou fumar”, retruca. Lamento por não ter trazido meu Zippo.
Beijo-lhe novamente; sua bochecha mais quente do que no primeiro cumprimento há algumas horas, e me segura em seu abraço por segundos que podem ter sido pífios ou infinitos. Agradece-me. Agradeço-lhe.
Ela retorna para seu mundo, em passos que parecem os de uma criança, com sua jaqueta subindo e descendo no ar, como asas de uma ave rara. Ela flutuava, pisava em ovos.
Esperei-a partir e percebi que poderia ser desbravada o quanto fosse, mas assim como os alter egos de David Bowie, jamais seria desvendada. Era um poço de petróleo, do qual ninguém sai sem algumas manchas. Concluí também que, se tivesse me contaminado com alguma coisa, teria sido com um pouco de sua personalidade, pois não consegui comer pelos dois dias seguintes, e achei-me mais branco e magro do que nunca. Só me faltaram os cabelos pretos
E ela se foi como a garoa gotejando, pingando igual ao sangue de meu corte, que parecia chorar e implorar, clamando por mais uma navalhada sua.

Crédito das fotografias: Caio Di Sevo