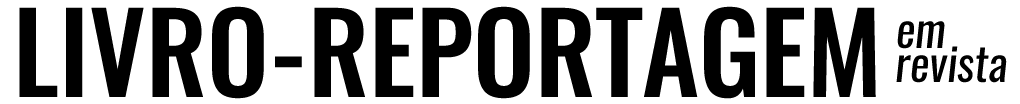Kimia, Salaam, La paix, Mbote e La paz. Todas essas palavras significam em português, “paz”. Seja em lingala, árabe, francês, kikongo ou castelhano, idiomas e dialetos dos refugiados – que frequentemente chegam ao Brasil – todos têm o direito legítimo de buscar a paz. De acordo com o Comitê Nacional para Refugiados (Conare), só em 2016, cerca de 9.552 refugiados, de 82 nacionalidades distintas, aportaram em território nacional.
Conhecido pela diversidade social e liberdade de expressão, o Brasil vem se consolidando como destino de milhares de refugiados. Com o objetivo de acompanhar a convivência dos solicitantes de refúgio com o povo brasileiro e revelar momentos de superação, esta reportagem conta a história de sete personagens. Mazen Sahlie, J., Louise Berthe, Daniel Neves, Christine Kamba, Mara Soki Frederico e Armando Baro, encontraram um lar.
***
J.: no rastro da milícia colombiana
Os refugiados são trabalhadores assíduos, produtivos, criativos e carregam consigo sua cultura e têm orgulho disso. Eles chegam com um ideal para reconstruir suas vidas e acabam contribuindo culturalmente e economicamente para o país. O cientista político e professor do departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Maurício Santoro, explica que há um perfil relativamente comum entre os refugiados que costumam chegar até o Brasil. A maioria se mostra intelectual, artística, empreendedora e acadêmica.
Com o potencial de criar negócios, os refugiados conseguem montar suas próprias empresas. No Rio de Janeiro, por exemplo, é possível perceber um grande aumento de refugiados empreendedores no ramo culinário. Aqui é possível experimentar comida árabe ou africana, feita por sírios, congoleses ou nigerianos. Isso também ocorre em outros setores, como a música e a costura. Em termo de ganhos culturais, ao trazerem os estilos de outros países, a sociedade brasileira cada vez mais vem se renovando. “Abrir o Brasil para refugiados significa não só uma questão humanitária de ajudar pessoas que estão precisando, mas também trazer benefícios para o país, algo que é de interesse direto da própria comunidade”, diz Maurício.
Há sete meses morando no Rio de Janeiro, a refugiada J, 28 anos, veio de Bogotá, capital da Colômbia, e para esta reportagem preferiu não se identificar. Sem saber falar português, buscou ajuda no Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio (PARES), da ONG Cáritas. Atualmente, ela e o marido trabalham na praia vendendo cordões e pulseiras. Porém, ambos estão na espera por um emprego fixo. “Eu sou empresária, tenho ensino superior e pós-graduação”, revela J. Além de já ter trabalhado na Colômbia como engenheira de sistemas, ela conta que possuía uma empresa de telecomunicações e tinha projetos de instalação de telefonia móvel. “Nosso contrato com uma empresa privada colombiana girava era em torno de 80 mil pesos (cerca de R$ 85 mil) e lá, empresários sofrem com extorsão”, explica ela.
Depois de vender o carro, o apartamento e móveis para pagar a extorsão, J. ficou sem dinheiro e seu marido passou a receber ameaças de morte. “Eu tinha que pagar o equivalente a R$ 5 mil reais, por semana”. Para fugir da milícia urbana, ela e sua família pegaram um barco pelo rio Amazonas, para não deixar rastros e conseguir chegar até o Brasil. “Foi difícil, eu fiquei preocupada com meus filhos pequenos, pois, podiam ficar doentes por conta do clima, da falta de higiene do barco e pela lotação, era muita gente dormindo amontoada. Foram oito dias de viagem”, conta. Desde que chegou ao Rio de Janeiro, J. procurou não entrar em contato com o restante da família na Colômbia, para que ela e o marido não fossem reconhecidos.
Apesar da dificuldade, a colombiana só quer encontrar estabilidade emocional, segurança e um bom lugar para reconstruir a vida. “Eu tenho vários projetos e espero conseguir montar um negócio. Sou empresária e líder, pode ser difícil, mas vamos seguir adiante”, diz ela.
Trabalhar na praia foi uma opção temporária para sustentar a família, o verdadeiro sonho de J. é abrir uma empresa. De início, pretende abrir uma barraca na praia para oferecer comida colombiana aos turistas, porém, mais adiante, quer ter seu próprio restaurante e assim manter contato com estrangeiros que falem espanhol. “É muito difícil trabalhar na praia. Eu tenho estudo e tinha outro tipo de trabalho. Mas eu prefiro ter minha família completa e segura do que viver uma tragédia”, afirma ela.
Devido à grande demanda de refugiados empreendedores, o PARES Cáritas, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), criou um grupo de costura e outro de gastronomia, para os refugiados trabalharem em eventos, feiras e criar seus próprios negócios. Esse projeto visa incentivá-los e elaborar um meio que possa compor a renda dessas famílias e ao mesmo tempo, realizar inúmeros sonhos.
“Sou empresária e líder, pode ser difícil, mas vamos seguir adiante.” J.
***
Louise Berthe: minha família Togolesa
Louise trabalhando na feira Chega Junto
(Cáritas – Arquivo Público)
J não é a única que tem planos para abrir um restaurante, a refugiada togolesa, Louise Berthe, 53 anos, também compartilha esse mesmo desejo. “Eu gosto muito de cozinhar e tenho o sonho de abrir um restaurante para fazer comida africana. As comidas que eu faço são togolesas e camaronesas”, diz. Pequena, Louise aprendeu a cozinhar com sua avó e não deixou seu sonho para trás. Hoje em dia, trabalha na feira social “Chega Junto”, que reúne diversos refugiados cozinheiros de comidas típicas de seus respectivos países. Além de empregar, a feira, promove uma experiência cultural, visando a integração deles na sociedade.
A relação entre a África e o Brasil é bem antiga, vem dos tempos coloniais. Eles ajudaram a criar a culinária brasileira, e receitas como a tradicional feijoada e o “cozido”, preparado com cenoura, batata, abóbora e carne, são verdadeiras heranças gastronômicas africanas. Sem falar no azeite de dendê, leite de coco, banana da terra e outras iguarias também originárias da África. “A comida brasileira é parecida com a togolesa. A gente come acaçá, pirão, farinha com feijão, acarajé, a típica tapioca com coco ralado e churrasco. São os mesmos ingredientes, mas no estilo africano”, explica Louise.
A cultura brasileira é o resultado da mistura de tradições indígenas, europeias e africanas. Essa diversidade, de certa forma, faz os refugiados se sentirem bem recebidos. “Tem muitos refugiados que acabam se encantando pelo Brasil, pela própria diversidade cultural e étnica. Eles também elogiam muito a capacidade de acolhimento do povo brasileiro. E, embora também façam críticas, a maioria destaca que os aspectos bons se sobrepõem que os ruins”, explica o cientista político, Maurício Santoro. Há quatro anos no Brasil, Louise, já se vê como uma brasileira e diz com orgulho, “Eu quero naturalização”.
Porém, bem antes de se quer imaginar que um dia seria tão feliz no Brasil, precisou enfrentar a ditadura, a discriminação, a imposição e violações aos direitos da mulher. “Sai de Lomé, capital do Togo, para um lugar em que fosse livre. No meu país, se você for contra a família e o marido, ele pode bater em você e te expulsar de casa. Lá a mulher não é livre”, afirma ela. Mãe de três filhos e casada com Aliim, veio embora sozinha, com o sonho de preparar um lugar aqui, para recebê-los. “Sinto saudades deles, se eles estivessem aqui meu coração estaria mais livre. Mas não posso voltar”, reflete.
Por um tempo, ela e o marido, tentaram levar a vida que eles queriam, mas a influência da família tradicional, cada vez mais, se tornou insuportável. “Um dia estava lavando a roupa dos meus filhos, meu marido chegou para me ajudar, e colocou as roupas para secar. Suas irmãs viram e disseram que não podia”, explica Louise, referindo-se ao machismo praticado em seu país de origem. Além das restrições, a família de Aliim, também não aceitava o casamento e depois que Louise foi embora ele foi forçado, pela família, a casar de novo. “A irmã do meu marido mexia nas minhas coisas, batia o portão, me insultava, na minha própria casa e eu não podia fazer nada”, conta.
O Togo é composto por uma variedade de povos, e ainda há muitas famílias com costumes, que para nós, brasileiros, são arcaicos. Louise não aceitava a forma como eles queriam que ela vivesse, fazendo trabalhos domésticos, cuidando dos filhos e obedecendo às ordens, sem poder tomar suas próprias decisões. “Para fazer faculdade, estudar e trabalhar eu dependia da família. Tem família que não aceita. Lá eu não tive tempo de estudar, eu estava sozinha, trabalhava, ia ao mercado, cuidava da casa, filhos e marido. Eu fazia tudo”, revela.
Louise veio para o Brasil por intermédio de uma amiga togolesa, que conhecia algumas pessoas no Rio de Janeiro. Inicialmente, pretendia ficar apenas seis meses, mas quando chegou aqui disseram para ela ficar e reconstruir sua vida. Depois de ter sido acolhida por uma família brasileira, foi morar em uma igreja. Atualmente, vive em uma casa alugada, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. “Eu não sinto falta do Togo. Não quero voltar. Sou feliz aqui”, afirma Louise.
“Sinto saudades deles, se eles estivessem aqui meu coração estaria mais livre. Mas não posso voltar.” Louise Berthe
***
Christine Kamba: uma canção de refúgio
Christine Kamba
(Foto: Vitória Benício)
“Algo especial estava dentro de mim, desde a infância eu não deixava ninguém me impor nada”, diz a congolesa Christine Kamba, 27 anos, sobre o casamento infantil, um dos costumes mais tradicionais da sua província, Bandundu, na República Democrática do Congo. Além de ser forçado, muitas vezes pelos próprios pais, esse tipo de casamento é proibido pelo governo e por isso, foram criadas leis que vão contra a essa prática cultural. “Lá na minha cidade tem lei, mas a gente não pratica. Eu tive que me casar com um dos meus primos. Os pais fazem isso para receber os dotes e quando a menina atinge 12 anos, é levada para a casa do marido”, conta.
De acordo com o relatório “Perfil do Casamento da Infância na África”, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cerca de 125 milhões de meninas se casaram antes dos 18 anos na África. Christine, porém, não entrou nessa estatística, pois pediu ajuda da sua mãe para fugir de casa. “Minha mãe me deixou na casa de uma irmã mais velha em uma cidade vizinha. Desde então, nunca mais nos vimos e se não fosse por ela, eu não estaria viva”, relembra. Sem poder voltar para casa ou ver sua mãe, Christine foi criada por uma tia até os 17 anos, quando decidiu se casar e construir uma vida ao lado do seu marido.
A história da República Democrática do Congo não é marcada apenas por tradições culturais arcaicas, mas pela guerra civil que desestabilizou o país, resultando na pobreza e na violência impulsionada por grupos rebeldes. Os dados do “Global Trends”, documento emitido pela ONU, revela que 2,9 milhões de congoleses foram forçados a sair do país em busca de refúgio. “Eu comecei a viver a guerra com sete anos, em 1997, quando o presidente Mobutu Sese morreu”, afirma ela. Durante muito tempo convivendo com a guerra, quando as de filhas Christine nasceram, ela decidiu fugir para um país vizinho. “Na minha cidade havia muita guerra e eu precisava ir embora. Nessa mesma época os rebeldes estavam saindo de Uganda para atacar o Congo. Eu só tive uma oportunidade para ir embora”, explica.
Ao chegar em Kampala, capital da Uganda, conseguiu passagens para o Rio de Janeiro e não pensou duas vezes. “Eu não podia ficar fugindo de cidade em cidade com minhas filhas. E também não queria arriscar ir para a França, pois, muitas crianças morrem nos barcos de travessia. Então preferi vir para o Brasil” conta ela.
A famosa receptividade e solidariedade do povo brasileiro já tinham chegado aos seus ouvidos, e esse foi um dos fatores decisivos para tomar a decisão de pegar o avião e aterrissar em um país totalmente desconhecido. “Tivemos que esquecer tudo. Esquecer quem éramos, esquecer-se da casa, dos bens que conquistamos, dos amigos, da rotina, da vida no Congo. Para seguir em frente é preciso esquecer”, ressalta Christine.
Ela chegou ao Brasil, em 2015. Estava grávida de dois meses e foi acolhida pela refugiada Ester, junto com seus três filhos. Seu marido ficou trabalhando no Congo, e só depois de um ano e oito meses, eles se reencontraram no Rio de Janeiro. “Só tinha um pouquinho de dinheiro quando finalmente consegui chegar ao Brasil. A dona da casa descobriu que Ester tinha deixado minha família passar um tempo lá, e obrigou a gente sair. Foi difícil, mas depois acabei indo para a Cáritas” conta.
Iniciativas como a da ONG Cáritas dão apoio aos refugiados, desde ajudar na alimentação até o requerimento de documentos. Ajuda financeira, no entanto, é precária. “O governo deveria tentar ajudar a gente. Até para conseguir documentação. Eu vou fazer dois anos e nunca fui chamada no Conare (que libera a documentação), a sede aqui no Rio até fechou. Eu não sei como vai ser”, diz ela.
Processos como o de Christine costumam demorar até dois anos ou mais para que o cidadão estrangeiro seja reconhecido legalmente no país, o que acaba atrapalhando o refugiado a reconstruir sua vida. “Há uma fragilidade na acolhida governamental dessas pessoas. Elas dependem muito das ações individuais da caridade privada. Hoje em dia, o Conare tem uma dúzia de funcionários para analisar milhares de pedidos de refúgio. Então, as análises demoram alguns anos para sair”, explica Maurício Santoro, o cientista político.
Um dos motivos para querer os documentos, é para ter a possibilidade de convidar sua mãe para vir até o Brasil. Há treze anos sem vê-la, Christine sonha com esse dia. “Eu quero que ela veja como a filha cresceu. Como eu consegui ter tantos filhos, sem apoio e sem família. Ela ficaria muito orgulhosa”, diz, emocionando-se. As duas conversam todos os dias por telefone, desde que conseguiram se falar pelo Facebook. “Um vez falei para minha mãe ligar a câmera do Skype, mas ela não quis. Disse que preferia ouvir minha voz, do que me ver pela tela de um computador, pois, um dia quer poder me ver pessoalmente”, conta.
Christine não pode voltar ao Congo, e a saudade que sente da mãe, permanece no anseio por um reencontro. “Não posso voltar agora. Fui estuprada por um policial que está no comando até hoje”, revela ela. Ao passar por várias etapas de vida, esse momento ainda é delicado, pois, esse é um trauma difícil de esquecer. “O que aconteceu comigo ficou no “sangue”, descreve. Na tentativa de superar a dor, ela buscou nas canções um caminho para vencer. “A música me ajudou a sair do buraco. Tinha pensamentos sobre a guerra, a violência e o estupro. Ela me ajudou a esquecer o passado. Hoje não consigo viver sem cantar”, afirma.
A música entrou na sua vida, inicialmente, como uma solução para acabar com a gagueira. “Eu cantava muito subindo as montanhas, com o tempo a gagueira passou, mas a música ficou dentro de mim”, conta Christine, que, aos cinco anos de idade começou a cantar nas igrejas e comemorações. “Embora não cantasse boas notas, era o meu sonho, então não desisti e continuei persistindo”. Atualmente, a congolesa é cantora gospel, trabalha com uma banda que canta músicas da sua cultura e faz aulas de canto. “As músicas daqui são mais clássicas, estou tentando me aperfeiçoar. Lá no meu país eu não tive essa oportunidade como estou tendo aqui”, relata.
Ser cantora é tudo para Christine, e a música é o motivo de sua fé. “A música me levou a ser cristã. Jesus ajuda na alma e a melodia também”, afirma. Recentemente, teve a oportunidade de cantar no programa da jornalista Fátima Bernardes, nos estúdios da TV Globo e testemunhar sua fé por meio de uma canção brasileira. A música não tem divisas, não precisa ser traduzida, basta apenas ser sentida. Além de unir culturas, ela é um meio para promover a espiritualidade, seja qual for a denominação religiosa.
“A música me ajudou a sair do buraco. Tinha pensamentos sobre a guerra, a violência e o estupro. Ela me ajudou a esquecer o passado. Hoje não consigo viver sem cantar.” Christine Kamba
***
Esta reportagem também contou com o apoio de:
Cáritas RJ, informações, dados e fotografias; Agence France-Presse, fotografias; Daniela Oliveira: professora orientadora. Gustavo Lacerda: professor coorientador.
Agradecimentos aos amigos, familiares e a todos os profissionais do Cáritas e refugiados que ajudaram na produção desse projeto.
Essa reportagem faz parte de um trabalho de conclusão de curso.
Em especial, agradecimentos a orientadora Daniela Oliveira e de mais professores da Universidade Veiga de Almeida, que de alguma forma contribuíram.
***
“Toda vida é importante, toda vida tem uma história para contar. Quando o trabalho como jornalista começa a proporcionar a experiência de ajudar e aprender com as pessoas, é quando assumimos nosso lugar no mundo.” Vitória Benício

Crédito da Imagem: Pixabay License
Parte da reportagem: “Em direção ao refúgio”