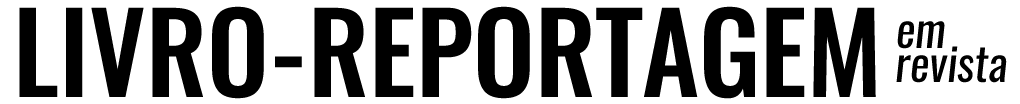Em 1963, Clarice escreveu seu primeiro romance em primeira pessoa: A Paixão Segundo G.H. Nessa época, vivia um período difícil, pois em 1959 separara-se de seu marido — separação esta consolidada no ano de 1963, quando este se casou novamente, com a filha de um diplomata. Foi nesse mesmo ano, então, que Clarice deu vida a G.H.
O romance inicia-se com uma busca: “estou procurando, estou procurando”. G.H. tem nome desconhecido, apenas indicado por duas iniciais. Assim como as primeiras linhas do livro, a ausência de um nome de sua protagonista também revela uma procura, um percurso que envolve dor e prazer: a paixão da busca por sua própria identidade. Ela, única personagem, conta a um interlocutor imaginário, necessário para lhe despertar coragem, o que lhe acontecera.
G.H., escultora, mora na cobertura de um apartamento de classe alta no Rio de Janeiro. No dia anterior, sua empregada, Janair, se despedira, e ela, então, resolve arrumar o quarto que esta ocupava em sua casa de “semiluxo”:
Sempre gostei de arrumar. Suponho que esta seja a minha única vocação verdadeira. Ordenando as coisas, eu crio e entendo ao mesmo tempo.
Pensando que encontraria um quarto imundo, que cumpriria a dupla função de lugar para dormir e de depósito de coisas inúteis, ela tinha a intenção de deixá-lo limpo e habitável para a nova empregada. Qual não foi a surpresa de quando adentrou o cômodo:
Da porta eu via agora um quarto que tinha uma ordem calma e vazia. Na minha casa fresca, aconchegada e úmida, a criada sem me avisar abrira um vazio seco. Tratava-se agora de um aposento todo limpo e vibrante como num hospital de loucos onde se retiram os objetos perigosos.
Uma realidade preconcebida revela uma concepção completamente distinta por detrás, o que desperta novamente a necessidade da busca. Partindo do estereótipo, há que se desmontá-lo e desconstruí-lo para que se possa entrar em contato com o que o real permeia: a vida pode raiar verdades quando se foge para o espaço em branco. As imagens que o quarto limpo e organizado criam podem ser significadas como o encontro com o outro e com o sentido “ao revés” do preconcebido pela personagem.
A primeira imagem que a afeta é o desenho com carvão que encontra numa das paredes do quarto. Três aparições de múmias, como chamou G.H. Composto por uma figura de um homem, de uma mulher e de um cão, o desenho despertou nela um sorriso constrangido, pois pensava que ali tinha sido retratada sob julgamento de Janair. As três figuras retardam a entrada no quarto, era como se ele ainda estivesse ocupado pela empregada. Era a primeira vez que G.H. se sentia julgada por alguém externo a seu ambiente, a seus pares. Mas, impulsionada pela imagem construída em sua mente do quarto modificado, transformando em seu e em si própria, G.H. entra. E foi como se tivesse sempre vivido à margem de um rio corrente, de modo que quando entrou na água se sentiu fora. Sentia que havia adentrado o nada, emaranhada numa teia de vazios, mas ainda assim persistiu dentro da hostilidade com a qual aquele quarto lhe recebera. Com hostilidade porque o quarto vazio lhe era não só o enfrentamento da solidão, mas também uma experiência de libertação. Ali se dava o início do fim da hora estável, o princípio do vacilo em seus próprios trilhos. G.H. vai rumo ao não sabido e tem assombro diante da realidade que seus olhos aos poucos vão conquistando.
É então que se defronta com o guarda-roupa de pinho empenado pelo sol e espia seu interior, colocando o quanto cabia de seu rosto em uma brecha na porta. Ela e o escuro vivo se fitam por instantes. Mas como se olha o que não nos vê? Foi então que o irremediável encontro se deu. Bem perto de seus olhos movia-se uma barata, que começou a emergir do fundo, chegando quase totalmente à abertura do armário.
O medo grande me aprofundava toda. Voltada para dentro de mim, como um cego ausculta a própria atenção, pela primeira vez eu me sentia toda incumbida por um instinto.
Sem pudor, G.H. fecha a porta — e também os olhos — num só golpe sobre metade do corpo da barata, a metade exposta.
Já então eu talvez soubesse que não me referia ao que fizera à barata mas sim a: que fizera eu de mim?
Neste momento, toma consciência de que havia matado e se pergunta há quanto tempo estivera por matar. Encarando o que fizera, de olhos abertos, percebe que seu golpe não havia sido forte o suficiente e que a barata, apesar de presa na brecha do armário, estava viva. Estava viva e a olhava. Fascinada, G.H. sentia repulsa, mas também maravilhamento. Ao observar a barata, descobria a identidade de seu ser mais profundo, despregava-se da lei, adentrava o inferno da matéria viva. O encontro com o inseto milenar lhe leva na contramão do instituído, flagra o momento da falsa estabilidade, que se rompe e lhe direciona à conquista do ver aqui e agora, sem as capas do passado e do futuro.
Eu chegara ao nada, e o nada era vivo e úmido. Foi então — que lentamente como de uma bisnaga foi saindo lenta a matéria da barata que fora esmagada.
O que antes era recoberto pela casca agora estava exposto. A casca, o endurecido, que antes evitava o medo e mantinha enclausurado o caos, se rompera e trouxera à tona a indistinção caótica do ser. A massa branca representa o signo do vivo, o vivo que G.H. desejava morto. Mas ela conquistara, num processo lento e gradual, a coragem, antes potencial e secreta, de se entregar ao desconhecido. O que não há acontece, a vida é um constante desconhecimento. Entregar-se ao desconhecimento de si é o que exige mais coragem, é entregar-se ao inverso das certezas asseguradoras, é um risco. Mas um risco necessário para que algo novo possa surgir. Apesar dos fechamentos, G.H. se abriu para o encontro, agora sentia que cabia no desenho mudo feito por Janair. Agora, sim, estava realmente lá dentro.
A massa branca da barata é a figura de ruptura de G.H. com a corrente automática da vida, com a solidez das construções sociais e pessoais do dia a dia. A barreira que mantém toda a estrutura bem montada que erguemos no convívio social se rompe e permite que haja contato entre as referências externas edificadas e o conteúdo interno de G.H., sua íntima desordem. É esse o marco inicial da crise que se instaura na personagem. A partir daí começa o momento de transe — trânsito, de experimentação de paradoxos, de encontro fundamental entre o ser e o mundo. A personagem dá o primeiro passo em direção à busca pela vida além das contingências, encara o que lhe foge às coordenadas. Deixa de lado o desassossego do cotidiano onde procurava ancorar para não viver o caos.
G.H. apaziguara tão bem a vida para que nada explodisse, mas, ao se deparar com a barata e sua massa branca, se permite viver seu interior, respirando ao arrancos quando se vê defronte à liberdade sem saber como ser livre. Em sua travessia do contrário, o mundo formatado se perde, há o descortíneo das coisas: era a brutalidade que jamais recebera.
A barata começara a tocar-lhe com os olhos e ela se deixou tocar. Como vivenciar o desconhecido agora? G.H. entra na aventura da casca da barata que, ao se partir e liberar a massa branca, também a liberta. E é uma liberdade assustadora, uma experiência de desamparo muito grande se ver expulsa de seus dias, diante de ausência de lei. Quando a lei se suspende, os paradoxos se tocam e causam um mal-estar infernal que chega a lhe dar náusea: tudo era uma falta de sentido tão grande que a fazia se sentir livre como nunca.
Mas enfrenta a barata. Querendo gritar, mas segurando o grito porque se começasse talvez não conseguisse parar. E também porque precisava de ajuda, mas se revelasse com o grito que tinha saído dos regulamentos poderia assustar a todos. Era melhor permanecer em silêncio, com o grito em segredo; um grito poderia desencadear outros seres gritantes, poderia desencadear a existência do mundo. Era o dilema entre desprender-se do conhecido, entregar-se à falta de sentido libertadora, e permanecer agarrada à consciência das leis, permanecer no mundo possível.
Nesse sentido, nota-se a questão da alteridade na literatura de Clarice. A barata, o outro, põe a personagem em xeque, como um raio que inaugura a tempestade em meio à calmaria. Inaugura o pensamento do estar no mundo: uma procura que nunca é chegada, só caminho. O outro, ao provocar uma situação de tensão, desloca, desequilibra. Mas é por meio dessa perda de equilíbrio que se dá o aprendizado. G.H. conhece, então, o mundo não domesticado. Pois o homem troca o que ele é pela convivência social, pelo mundo administrado: sacrifica-se a loucura, o pré-linguístico, o conteúdo interior, em favor de sua humanização. Assim, passa a se reconhecer no que dizem dele, criando uma concepção alienante de si:
Tudo o que me caracteriza é apenas o modo como sou mais facilmente visível aos outros e como termino sendo superficialmente reconhecível por mim. Assim como houve o momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres.
É então que no texto clariceano aparece o outro que transfigura toda a percepção que a personagem possui do mundo: transcendência seguida de redenção.
É que a redenção devia ser na própria coisa. E a redenção na própria coisa seria eu botar na boca a massa da barata.
A massa branca, o magma onde tudo está conectado, a origem primeira das coisas, símbolo de unidade, começa a adquirir aparência material quando G.H. começa a percebê-la, vivê-la. O interior da barata remete ao interior da própria personagem em seu momento de epifania: despida de sua casca, começa a viver o que tem por dentro, a massa amorfa, o núcleo, a entranha úmida e primitiva. Nesse momento, o que antes era estranho passa a se tornar familiar, e o antes familiar se torna estranho.
Pois ser real é assumir a própria promessa: assumir a própria inocência e retomar o gosto do qual nunca se teve consciência: o gosto do vivo.
G.H. se entrega à paixão e a vive em sua máxima intensidade quando decide levar a gema da barata à boca. E é nesse momento em que há a fusão do eu e do outro. Há a experimentação do ser livre das amarras da domesticação, livre da casca: a vivência do encontro entre a íntima desordem e o conteúdo interior despojado de referências externas.
Clarice trabalha com um rearranjo de contradições em busca da identidade da personagem, não priorizando a beleza das coisas. Pelo contrário, toca no difícil, propõe a aceitação daquilo que é considerado feio, sujo, nojento. Procurando essa identidade, a personagem acaba se perdendo, o que viveu arrebenta com sua vida diária, não sabe mais o que aconteceu ou não, mas sabe que o que quer que tenha havido a desestabilizou, rompeu com a formatação de seus dias.
Enfim, quebrara-se realmente o meu invólucro e sem limite eu era. Por não ser, eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era. O que não sou eu, eu sou. Tudo estará em mim, se eu não for; pois “eu” é apenas um dos espasmos do mundo.
G.H., que antes possuía a necessidade de sentir a raiz firme das coisas, após ter sua visão da civilidade de tudo desarrumada, reconstrói-se e passa a se entregar com confiança ao desconhecido.
Eu, que havia vivido do meio do caminho, dera enfim o primeiro passo de seu começo.
Por meio do interstício da palavra, Clarice rompe com o discurso de firmeza das coisas. G.H. expressa em vários momentos sua angústia em face do esgotamento da linguagem quando ainda resta o que ser dito. Na linguagem há vitória e terror. Terror porque quando dizemos perdemos no mesmo instante o que queríamos dizer, e vitória porque através da linguagem reconhecemos nossa existência na sociedade. O mundo não nos chega em si, mas através das palavras. A escrita é busca, caminho, conquista: elementos estes que tangem a narrativa criada em torno de G.H.
Clarice é dona de um olhar estrangeiro, oblíquo aos códigos compartilhados. Vê o avesso, o contrário. E é exatamente sua escrita constituída a partir de estranhamentos que permite que seu texto atravesse a linguagem cotidiana e cause um deslocamento em relação à norma. É a literatura do despertar, das experiências. Os momentos epifânicos trazem à tona naufrágios interiores de personagens que se veem diante de vazios identificatórios, sem terem onde se apoiar devido a tamanha perplexidade em que se encontram ao se deparar com ondas externas que engolfam seus equilíbrios interiores. Mas na crise há uma oportunidade, trata-se de um portal de novas descobertas. Após a volta do transe, G.H. passa por um processo de entrega, que a renova e a reconstrói, abrindo seus horizontes ao que lhe era estranho e ininteligível. A partir daí, sente-se muito maior que o espaço de seu apartamento e aceita a vida que a massa branca da barata lhe deu, mas que, no entanto, ainda não compreende.
Referências
LISPECTOR, C. A Paixão Segundo G.H. São Paulo: Rocco, 1998
GOTLIB, N. B. Clarice: uma vida que se conta. São Paulo: Edusp, 1995.
WALDMAN, B. A retórica do silêncio em Clarice Lispector. In:______. Silêncios e Luzes, sobre a experiência psíquica do vazio e da forma. Org. Luiz Carlos Uchoa Junqueira Filho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.
BARBOSA, R.C.K. A retórica do silêncio em Clarice Lispector. São Paulo, 2013

Crédito das imagens: UOL