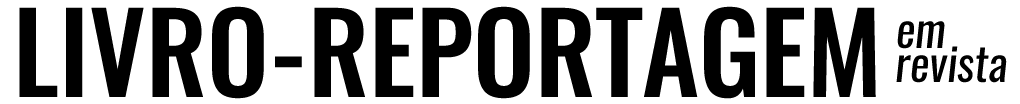A gente saímo e eu te deixei de lado
O que poderia ter sido um belo romance, ou até mesmo apenas mais um lance casual, foi destruído por uma frase que soou como o divisor entre o que um homem achava merecer e o que outro alguém, uma mulher, de fato representava. Foi quando ela disse assim:
— A gente saímo.
Nada mais foi preciso. Desde essa frase, a admiração e carinho que ele tinha por ela, e desapareceu todo o processo de conhecer e se interessar por alguém: sentir-se desconfortável e fascinado; nervoso quando não se sabia o que fazer ou dizer; encabulado por receber um elogio e/ou extasiado por elogiar e ver a mesma reação noutra pessoa; sentir a respiração acelerar por apenas segurar sua mão.
Ao ouvir a frase dela, um sentimento aparentemente bonito virou desgosto e arrependimento por ter depositado certa esperança numa pessoa que nem sequer sabia conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Precisou-se de pouco mais de dois meses de amizade para surgir o sentimento de desejo, e pouco menos de dois segundos para destroçá-lo.
Colegas de trabalho e de mesmo andar, os dois se viam frequentemente. Trocaram olhares logo nos primeiros dias de trabalho dele. Pareciam conectados desde o início. Um simples abraço de bom dia já durava alguns segundos a mais do que o normal. As conversas, fossem elas pessoalmente ou pelo celular, eram acompanhadas por algumas palavras mais doces, evidenciando a reciprocidade no sentimento. Mas palavras também têm poderes destrutivos.
Em detalhes, ouvi a declaração bombástica em mais um exaustivo dia de trabalho. Na hora do almoço, uma conversa despretensiosa que nada acrescentaria a alguém pelas bobagens envolvidas, foi determinante para encerrar algo que nem havia começado. Tudo mudou a partir do “a gente saímo”: o modo de cumprimentar, que tornou-se menos caloroso do que antigamente, o modo de pensar nela, de olhar para ela, de pensar em um possível relacionamento que envolvesse alguém que pudesse lhe envergonhar diante de seus amigos. O que antes, na boca deles era comentado como “um casal que combinou desde o começo e tem tudo para dar certo”, converteu-se num distanciamento desconfiável para a maioria, que ficou sem entender a bruta ruptura do (futuro, e certo) relacionamento.
Pablo Jamilk e os “10 erros que denunciam sua inteligência”
É muito comum presenciarmos cenas de preconceito linguístico quando, num debate, encontram-se pessoas ricas e pobres. Mesmo quando se encaixar nos padrões da língua portuguesa se torna motivo para legitimar a informação transmitida, entende-se que isso é causado pelo distanciamento de informações capazes de descontruir o preconceito enraizado na sociedade.
Intolerável e chocante é toda essa prática vir de um professor de língua portuguesa. Em “10 erros que denunciam sua inteligência”, Pablo Jamilk — professor de gramática — exibe erros que, segundo ele, evidenciam a burrice alheia e causam situações supostamente vergonhosas ao falar e escrever. No vídeo, uma simples correção de português fantasiada de generosidade pitoresca é, na verdade, a legítima pregação da barbárie.
Um professor de português, não importa a faculdade que frequentou, deveria ter tido, em algum momento, contato com alguma obra de linguística ou com a discussão sobre o preconceito linguístico. Com isso, atentemo-nos ao deboche de Pablo Jamilk. Logo na primeira dica, sobre “barbarismos”, ele afirma que se trata de “vício de linguagem que consiste em usar uma palavra errada quanto à grafia, pronúncia, significação, flexão ou formação”. Ele apresenta algumas palavras escritas das duas maneiras, padrão e não-padrão: “problema” e “pobrema”.
Sem levar em conta a história dos falantes, a história da língua e o contexto social no qual nos encontramos, Jamilk detona os analfabetos, mas lembramos que, segundo Marcos Bagno, detonador da discussão e do próprio preconceito linguístico, teorizador dessa barbárie e que aparecerá entrevistado no próximo capítulo, o que ocorre com “pobrema” e “problema”, além de outras variações correlatas, não tem nada de burrice.
Em seu clássico sobre o assunto ele explica que “existe na língua portuguesa uma tendência natural em transformar em R o L nos encontros consonantais, e este fenômeno tem até um nome complicado: rotacismo. Quem diz ‘broco’ no lugar de ‘bloco’ não é burro, não fala errado e nem engraçado, mas está apenas acompanhando a natural inclinação rotacizante da língua”.
Como, então, para o professor Jamilk é tão fácil corrigir alguém? A jocosidade transmitida nessa aulinha despretensiosa, leve, humorística é, na verdade, uma hostilidade que faz do uso das palavras talvez a maior de todas as distinções.
Um exercício custosamente incentivado pela maioria que se defronta com o assunto é tentar fazer os detratores imaginarem que tipo de pessoa e a qual classe social pertence o falador de “broco”, “pranta” e “pobrema”. O professor do vídeo, enfim, está desatento a um assunto amplamente discutido entre os linguistas, motivo, inclusive, da maioria dos alunos terminarem o Ensino Médio escrevendo sem nenhuma criatividade.
Convido-os a explorarem o restante do vídeo do professor Jamilk. Decerto, aquele profissional continuará reproduzindo e multiplicando essas “aulas” a milhares ou milhões de pessoas, e provavelmente será escutado, citado e até elogiado.
A inteligência (inconteste?) de Jô Soares
Jô Soares fala inglês, espanhol, francês e italiano. É humorista, entrevistador, escritor, dramaturgo, diretor teatral e artista plástico. O dono do bordão “vida inteligente na madrugada” tem um currículo invejável, certamente invejado por muitos profissionais, de diversas áreas, inclusive professores. É muito comum pessoas que nem sequer assistem ao seu programa ou sabem de sua trajetória o admirarem por sua erudição e bom humor.Mas para onde ele canaliza, em seu programa, toda essa laureada inteligência? Para puxar o riso e deixar sua plateia boquiaberta com exclamações de espanto quando ele apela para o desrespeito contra os falantes/escritores do português não-padrão. Ridicularizá-los parece ter se tornado cartada certa para a afirmação de distinção em alguns minutinhos de descontração.
Em seu programa exibido em 24 de maio de 2007, Jô exibiu algumas das placas que, segundo ele, maltratam o nosso português. É nítido para o público que os erros gramaticais chamam mais atenção do que as frases pretensamente engraçadas. Exemplo disso é um estabelecimento que tinha estampado “Bar e Danceteria Owver Naith” logo na entrada da casa. A pilhéria girou em torno do proprietário que não sabia falar inglês, seguindo a premissa de que todas as pessoas devem ser fluentes em um idioma estrangeiro e quem não tem tal domínio é preguiçoso e incapaz.
Imaginem esse mesmo poliglota, quando estava começando a aprender qualquer uma das línguas que fala, ser julgado por não ter a mínima familiaridade com o idioma, ser tratado como chacota perante outros estrangeiros por supostamente escrever errado. Claro que a comparação aqui feita merece reparos: por um lado, Jô decidiu estudar essas línguas, viveu até sua adolescência nos Estados Unidos e depois se mudou para a Suíça, o que facilita, e muito, o aprendizado de um novo idioma; por outro, o proprietário da casa noturna, provavelmente, nunca teve contato com inglês, a não ser o que via no dia-dia em placas de outros estabelecimentos, e deve ter achado que colocar um nome em outro idioma soaria um pouco mais chique, descolado, um incremento para atrair fregueses. Infelizmente, sua tentativa de marketing atraiu um deboche generalizado. Mas o nosso Jô, sem o qual muita gente não vai pra cama, continua a entreter a plateia.
Numa foto muito mais autoexplicativa do que qualquer outra, onde era possível ler “Alfisina Mecânica”, a compostura dos espectadores foi abaixo ao lerem tamanha bizarrice. Concordo que, até para mim, e acredito que para tantos outros, que descontruí esse mito da língua única e correta, é difícil imaginar que alguém fosse escrever a palavra “oficina” dessa maneira; caso alguém dissesse que erraram na grafia, “ofissina” é o que me viria à mente.
Fosse como fosse, o preconceito ainda existiria. Ao ler a placa se explicitou, além do preconceito linguístico, um preconceito social. A tal “alfisina” é na própria casa de alguém, anunciada num pedaço grande de pano rasgado. A casa, de madeira. A rua, de terra. A condição, juntando tudo isso, miserável.
O beijo do Gordo nunca foi tão ácido.
O preconceito invisível
A pele enrugada revela a vida sofrida, o sotaque já entrega a região de origem. Fica faltando saber que região é essa. Vemos que não tem tanta idade. O passado na roça é uma das primeiras coisas que vem à cabeça dela. A simplicidade no tratar demonstra carinho de mãe por quem acabou de conhecer. O rosto rechonchudo acrescenta um quê de fofura que impossibilita estar perto e não se sentir bem. O jeito meigo e calmo de falar, acolhe. O português não-padrão serve para demonstrar que todo e qualquer errinho gramatical é insignificante perto da luta, conquista e simplicidade que alguém pode adquirir em apenas uma vida.
— Eu sou a Benigna Francisca dos Santos, com 62 anos. Nasci no Sergipe, cresci no Sergipe, e tô aqui em São Paulo há 24 anos. Eu comecei a trabaiá com 14 anos, em bordado, nas máquina, trabaiava pra me mantê, que o pai não podia, né, e ai depois que eu casei, continuei trabaiano em costura, e vim pra cá, trabaiei em empresa aqui, e uns 15 anos atrás saí, e construí minha vida aqui. E aí não tive estudo, né?
Uma risada ecoa pela sala. Uma risada gostosa, ocasionada por certo embaraço de ter que assumir tal situação, mas sem querer parecer constrangida por se encontrar nela. Benigna prossegue, respondendo por que não estudou.
— A escola era muito distante, não tinha como levar, na chuva, no verão, como é que ia levar uma criança de cinco, seis anos pra uma escola distante, né? Eu já tinha uns 20 anos [quando começou a frequentar a escola], eu largava o trabalho e a tarde ia pra escola. Frequentei um ano, pra aprender a escrever o nome, descobrir um endereço. Porque é assim, eu ler, já li muitas cartas. Eu ler, mas não escrevo, entendeu? Até uma letra um pouco difícil, eu descobria. A leitura, pra ler eu descobria, pra escrever não conseguia.
A risada do primeiro momento não aparece mais. Percebe-se um pouco mais de tristeza em sua voz. Seus olhos ficam vermelhos. Ela os aperta. Demonstra força, mas não perde sua meiguice nem por um segundo. Olha para o gravador novamente, e dessa vez consegui entender.
Lembrei da primeira vez que comi amendoim cozido, direto de Sergipe, pois seu filho tinha chegado e trouxe algo que não se encontra facilmente em São Paulo.
— Só quem tem roça que consegue comer amendoim cozido. Não é igual ao que vende aqui, seco.
Um punhado em minha mão, porque respondi com gosto que adorava amendoim. O cafezinho de acompanhamento fez com que me sentisse em casa. Já não parecia mais uma entrevista para um livro-reportagem quando Benigna estava falando das dificuldades que encontrou por não saber ler. Conta agora sobre seu trabalho em uma empresa de São Paulo:
— Eu entrei limpando fita de impressora, fita que vai no computador, qualquer aparelho. Trabalhei lá quase 15 anos. Aí, quando fiquei com problema de saúde, aí comecei a fazer tratamento, fiquei cinco anos afastada, aí voltei. Os cara não tinha como dá baixa na carteira, aí nóis juntemo um monte de gente e levemo no juiz e ele deu baixa. Ai fez o documento… e lê, pra gente concordar? O que fizer lá, tá feito.
A contagiante risada reapareceu, e prosseguiu, ao falar daquele momento diante do juiz:
— Quando deu o documento pra ler foi difícil, né?! Eu passei um visto, quase fingindo que tava lendo na frente do povo, aí oiava assim, você fica com vergonha, né? Como é que você vai ler? O advogado falou assim: ‘a senhora vai assinar, porque vamos fazer um acordo, que é melhor que perder tudo’.
Benigna recebeu por volta de R$ 500,00. Para quem trabalhou mais de 10 anos numa empresa, que utilizou como desculpa a falência, podemos dizer, como ela mesma disse, que perdeu tudo. Ela se sentia envergonhada por não saber ler um documento, perdeu muito do que poderia receber num acordo que, possivelmente, com escolaridade, ela contestaria.
Apesar de tudo, esta mulher que veio da roça e não tinha como estudar, ajudava no trabalho para ter o que vestir e comer, hoje vê seu filho formado em Engenharia de Petróleo e Gás e pode acompanhar seus netos crescendo com celular na mão, como a pequena dançarina de balé, Helen, de cinco anos.
Mas não são só os filhos e netos estão aprendendo algo novo. Benigna, incansável, mesmo sexagenária, encontrou um professor particular para ter aulas de ler e escrever.
Vamos corrigir, mas “tomare” que a gente não erre
Quase fim de agosto. Parecia mais um simples dia de trabalho, rotina à qual estava me adaptando após um mês no novo emprego. Como entro às seis da manhã, depois de deixar todos os pertences no armário e ligar o computador é muito natural e relaxante todos do corredor iniciarem uma conversa descontraída, boba, sem muito conteúdo, que sirva somente para movimentar os lábios e fazer impor a liberdade de não existir nenhuma supervisão até às oito da manhã. De tudo se fala. Tudo se faz (ou não). O único momento em que não importa a pressão, importa fazer coisas que demonstrem nossa total e temporária liberdade.
O quadro de funcionários nesse turno é muito reduzido e, pelo horário ser um pouco fora do comum, tornou-se habitual comentar o trajeto de casa para o trabalho. Alguns dizem que viram algo suspeito; mulheres já relataram medo por algum sujeito estranho; há quem exalte a rapidez com que chegou ao trabalho, comparando com o horário de pico e reiterando a indignidade do trânsito em São Paulo; e, por fim, surgem os que comentam da vida alheia.
Não demorou muito (diria que nem 10 minutos após o inicio do expediente), para que a indignação viesse à tona. A faixa etária girava em torno de 23 anos. Pessoas jovens, bilíngues ou trilíngues, com formação acadêmica e boa estrutura familiar, nenhum deles egresso de escola pública. O prato cheio para a padronização do julgamento. Um vira para todos e diz:
— Acabei de ouvir duas pessoas conversando, e uma delas se virou para a outra e disse: “trabalhar aqui é mais melhor pra eu. Naonde eu tava, ninguém mim ajudava e eu tinha que fazer tudo sozinho”.
Ele realmente falou assim, sem tirar nem pôr uma palavra ou vírgula!
O espanto foi geral e uníssono.
— Nossa!!!
Ouviu-se muita coisa dos que prestavam atenção na conversa, fossem olhando para o computador ou para o colega de trabalho. Como se não bastasse, criticar um falante impopular não é o suficiente, espera-se sempre um comentário rebaixando e manchando a imagem do brasileiro.
— Gente! Isso é um absurdo! O brasileiro é uma vergonha que nem sabe falar direito. Tomare que se ferre mesmo.
Tomare?
Quase perguntei se a pessoa tinha certeza sobre a palavra, mas continuei observando e lembrando do provérbio sobre tirar a pedra do seu olho antes de apontar o cisco no olho do outro.
Na entrevista com o linguista Marcos Bagno, transcrita na íntegra no próximo capítulo, eis uma resposta que vale a pena adiantar aqui, quando ele comenta o mundo corporativo:
— Um falante de variedade não-padrão não terá nenhuma oportunidade num meio como esse, porque é exatamente nesses ambientes que a linguagem é mais empregada como instrumento de exclusão e discriminação social. Por isso é tão importante que as escolas ofereçam uma educação linguística de qualidade para todas as pessoas, de modo que possam ampliar seu repertório linguístico e lutar com as mesmas armas que as pessoas mais privilegiadas.
Acompanhar o episódio no meu trabalho foi gratificante, confesso. O deboche e a tentativa de distinção pela fala — seguida do grotesco erro, segundo a norma culta — conseguiu expor como esses falsos sabichões pregam uma padronização que nem mesmo conhecem. Testemunhar essa contradição apenas intensifica a discussão de que a língua e o modo certo de falar são sempre acompanhados de ares de superioridade que rebaixam a imagem de uma parcela do povo que não teve acesso ao mais básico da educação.
Preconceito via Whatsapp me deu a ideia: entrevistar Marcos Bagno
A ofensa contra o falante do português não-padrão se tornou automatizada. É extremamente difícil passar um único dia sem receber um áudio ou vídeo no celular que não seja zombaria contra o português dito incorreto. Reiteradamente, as vítimas de tal escárnio são pobres ou nordestinos, quando não os dois.
Num dia aleatório, quando nem me passava pela cabeça escrever este livro-reportagem, recebi um áudio no Whatsapp acompanhado de uma mensagem que dizia “olha isso!!!!!!”. Ao apertar o play do áudio, que não durou nem sete segundos, pude ouvir o motivo da gargalhada: era um nordestino que perguntava como fazia para ver se ele estava online, ou disponível, no aplicativo. O suposto problema estava na pronúncia da palavra estrangeira online, que o falante em questão pronunciara usando fonemas da língua portuguesa.A mensagem foi enviada num grupo com mais de 40 pessoas, e chamou a atenção ver que os comentários exprimindo riso e deboche vinham todos de números com DDD 11, da capital paulista. Obviamente, não podemos afirmar que todos os paulistas são preconceituosos, nem que todos os participantes do deboche virtual eram paulistas.
Eu mesmo, que gosto de escrever de forma totalmente relaxada e despojada (usando vose, kede, naonde, mim dá) quando não estou sendo obrigado a ser formal, passei por inúmeros pré-julgamentos — desde mulheres a amigos muito próximos — que pouco se importavam com o conteúdo das minhas palavras, mas sim com o que elas aparentavam.
Aparência, virtualidade… Essas mensagens de preconceito linguístico campeãs de audiência via foto, texto, áudio e vídeo me encorajaram a tentar uma entrevista com o teorizador do preconceito linguístico, o pesquisador Marcos Bagno. Para minha surpresa (ou melhor: descontruindo um preconceito meu, que nunca imaginei ser atendido), Bagno respondeu mais de um e-mail com questões.
No próximo capítulo ele será apresentado e leremos suas respostas que nos ajudarão a começar a destrinchar a pauta deste livro-reportagem, adentrando num cipoal de inverdades e equívocos chamado preconceito linguístico, infelizmente com mais historinhas dessas que fazem rir, mas deveriam fazer chorar.

Crédito da imagem: Domínio Público
Capítulo do livro “Sem pobrema: reportagens, perfis e entrevistas sobre preconceito linguístico“