— Atrasado! Estou atrasado!
Saí da estação ensopado de suor embora aquela fosse uma manhã fria de outono e corri para o centro. O encontro seria às onze da manhã e de acordo com meu relógio começaria nos próximos 10 minutos. Mesmo atrasado, fui um dos primeiros a chegar. Não havia sinal das Mães da Sé nem da equipe de reportagem da Rede TV que gravaria o encontro quinzenal das mães para um programa sobre desaparecidos. Somente o centro de São Paulo, com suas velhas construções centenárias e seus frequentadores assíduos.
São Paulo é uma cidade movimentada, para não dizer caótica. Principalmente o centro velho. Em geral há fluxo de pessoas carregando sacolas de compras, caixas de supermercado, pastas ou maletas pretas, apressadas demais para notar o que acontece ao seu redor. Nem todos reparam no chão sob os pés. Estamos acostumados a viver com a cabeça em outro país, outro mundo, e nem sempre ele é um País das Maravilhas. Cedo ou tarde caímos num buraco e aí, amigos, podemos descobrir muito sobre essa cidade…
Tal qual aconteceu com a Alice das histórias de Lewis Carroll, aqui também se pode tombar no buraco, na toca do Coelho ou não, e parar nessa cidade onde nada parece fazer sentido.
Mas a realidade é bem menos compreensível do que o sonho maluco de uma criança. Sobre ela, talvez saibamos menos do que a Alice dos livros. Sabemos pouco também sobre tantas outras coisas — só fingimos que sabemos. A diferença entre nós e a personagem de Carroll é a curiosidade. Somos um bando de velhos chatos que acham que sabem de tudo e vivem no centro da América Latina, num mundo maravilhoso. Porém queremos distância do resto.
De qualquer forma, não se esqueçam, caros leitores: Alice era uma menina curiosa e justamente por isso sabia muito mais…
Voltando ao centro, ao da cidade, em meio a todo esse fluxo existem certas coisas que, aparentemente, nunca mudam além do cenário; porém, basta caminhar cerca de cinco minutinhos para se sentir como em uma partida de futebol: porcos contra gaviões. É como se você estivesse na torcida de um, mas com as cores do outro. A todo instante parece que algo ruim vai acontecer caso fique tempo demais por ali.
A atmosfera não ajuda. É pesada, sufocante. Resultado da onipresença dos mendigos e do constante fedor de urina — não há nada que amenize o cheiro impregnado naquelas ruas e esquinas. Não é para menos: aquele é o único lar de centenas de pessoas que comem, dormem e cagam por ali mesmo. E são numerosos os moradores da praça, como animais de um zoológico fantástico, espécimes raros e nunca antes vistos que se movimentam lentamente, preocupados com seus afazeres diários ou simplesmente perdidos. Alice, no livro infantil, também encontra uma série de espécimes estranhos em suas incursões pelos mundos subterrâneos e através dos espelhos.
Nesta manhã, evitando contato com esses moradores do centrão real de São Paulo, professoras encabeçam fileiras de alunos assustados do ensino fundamental até a Catedral da Sé. As faces vermelhas e à beira de uma síncope nervosa berram ordens aos estudantes que repassam a informação como papagaios:
— Não deixem espaços entre vocês, andem juntos, fiquem em fila e não deixem espaços entre vocês…
Se gritassem (“cortem-lhe a cabeça!”) ao final de cada fala, eu não me surpreenderia nem um pouco (no País das Maravilhas, a Rainha de Copas ordena decapitações a toda hora). O primeiro grupo de alunos para em frente ao Marco Zero, o segundo vai em direção à Catedral e um terceiro já respirava com tranquilidade — todos em segurança no calor insosso das velas elétricas.
Apesar de ser outono, casacos e jaquetas foram retirados mais cedo dos guarda-roupas. Não poderia ser diferente para os policiais que patrulham a Sé. Bem agasalhados, postura impecável, olhos atentos e mão no cassetete para vagabundo não fazer graça. Pelas costas são todos iguais, mas pela frente são identificados por um número estampado no peito. Um típico baralho de cartas marcadas. Uma espécie que nasce com visão unilateral e ânsia pela caça ao marginal. É como se, em todas as manhãs, após a chamada, o capitão, que podemos apelidar de Valete pelo seu destaque acima dos demais, repassasse as ordens da coroa:
— A regra é clara, pessoal! — A voz anasalada e monótona — se vagabundo se juntar em rodinha pra papear, desce o sarrafo. Mas vamos pegar leve com esse negócio de cortar cabeça que o pessoal do jornal, esse bando de coelho no cio, cai matando em cima da gente depois. Tá booom? Então táá booom.
E se uma das professoras notasse o sumiço de uma aluna? Desapareceu. Puff! Virou fumaça. O grupo fardado seria o oásis de salvação naquele deserto de pessoas mal intencionadas e trombadinhas.
— Calma, dona, o que aconteceu? — perguntaria o guarda de número sete, papel e caneta na mão rabiscando qualquer coisa só para parecer prestativo e tranquilizar a mulher. Seu foco estaria adiante, num grupo de vagabundos que conversava em roda. Coisa boa não podia ser. Talvez até tivessem alguma ligação com o sumiço da aluna.
Certo. Bastaria uma dura e eles iriam logo dizer onde meteram a menina. A essa altura o coração da mulher estaria saindo goela afora enquanto a turma de alunos apinhados em seus calcanhares se perguntava onde a colega tinha se metido.
Esse devaneio era substituído por outro conforme minhas narinas foram invadidas pelo bafo quente do sujeito que disse um oi embriagado ao meu lado. Um pouco mais decaído, ainda assim lembrava algo do glamoroso Chapeleiro Maluco da história de Alice, brilhantemente interpretado por Johnny Deep em recente versão cinematográfica.
Só depois de recobrar um pouco dos sentidos, ou imaginar tê-los recobrado, pude perceber: o café da manhã do sujeito consistia em erva doce, camomila e caninha. Estava completamente travado. Usava um jaleco verde remendado e calça marrom, impregnados de um odor característico de quem passa as noites ao relento sobre um pedaço de papelão esticado no chão acompanhado de cachorros e alguns ratos. O único detalhe que o destacava dos demais era o chapéu coco musgo sobre a cabeleira grisalha.
Estendeu uma fotografia.
— Você viu essa garota?
A fotografia é de uma criança, mas não era a do panfleto do evento promovido pelas Mães da Sé. Por cima do seu ombro não há mais policial nenhum, nem professora. Procurei em todos os cantos: da saída do metrô aos camelôs mais para baixo, próximo à estátua do Padre Anchieta e do ponto de ônibus do outro lado da rua até as portas da Catedral. Bem ali um grupo de mulheres vestidas com camisetas e fotos de pessoas desaparecidas começava a se formar. O homem ainda esperava por uma resposta. Disse que nunca vi aquela criança e me livrei do sujeito o mais rápido possível.
Uma história muito mais real estava para começar.
Quem estava de passagem era atraído, em primeiro lugar, pelo ícone estampado no microfone da repórter da Rede TV: um ponto de exclamação gigante que dispensa legendas. Depois o passante poderia ser atraído pela curiosa fauna que se acomodava num cantinho da escadaria da Catedral, como pombas nos fios de um poste. A maioria olhava com desinteresse e seguia o rumo. Os que ficaram, bêbados e mendigos em sua maioria, estão acostumados com a manifestação silenciosa daquelas mulheres e seus cartazes. Todos reunidos ali, naquele local ironicamente esquecido por Deus, a Catedral da Sé.
As gravações começaram com quase uma hora de atraso. Uma por vez, as mulheres são chamadas pela repórter para ficarem prostradas diante da câmera. Contam suas histórias. Algumas choram. Então voltam e sentam no mesmo lugar. Inertes. O silêncio recai sobre todas como um manto gelado. Aqueles que se sentem incomodados com a atmosfera pesada vão embora. Crianças desaparecidas? Não precisam daquilo para tornar seus dias mais deprimentes, afinal a curiosidade matou o gato, não é mesmo?
Quando chegaram, as mulheres, mães de crianças desaparecidas, estavam esperançosas. Umas vieram de casa, outras tiraram o dia de folga no trabalho para cumprir o ritual sagrado. Porém, no exato momento em que ele começa, o pesadelo volta. Pouco a pouco. Nenhuma delas parecia estar mais ali. Talvez estivessem em uma realidade paralela onde suas crianças nunca tivessem desaparecido. Ou mesmo que tivessem sumido num buraco de coelho, depois de inacreditáveis aventuras, elas teriam voltado para casa. Seria um momento feliz, sensação de estar num país das maravilhas. Mas ali, no centro velho de São Paulo, quanto mais pessoas se reúnem para assistir mais vazio o lugar parece ficar.
A última gota de esperança é minada pela lente do espetáculo.
— Olha só — era o homem com a fotografia, de novo. Tirou um frasco de alumínio de um dos bolsos internos do casaco e tomou um gole de algo com cheiro forte. A bebida escorria pelos cantos da boca, cavando sulcos pela sujeira encrostada na barba mal feita. Guardou o cantil e secou o rosto com as costas da mão.
— Eles vão chamar mãe por mãe. Parente por parente. Cada uma vai ter seu momento de penitência… transmitido para todos os moradores do país… — ele fez uma longa pausa, ao que aproveitei para olhar o local onde estavam os policiais. Nem sinal de alunos ou da professora desesperada.
— Minha avó de noventa e nove anos sumiu — continuou, enquanto colocava a fotografia da menina na fita do chapéu, no verso o número 10/6 havia sido rabiscado — já procurei em tudo quié hospital e num achei niúma delas, só uma, mas as outra nada!
Bêbado…
Sob a sombra da Catedral, Ivanise Esperidião, fundadora do grupo Mães da Sé, assiste ao depoimento das companheiras. Uma figura solitária. Cabelos desbotados, a pele esbranquiçada como papel manteiga — translúcida em certos ângulos — e uns trinta quilos mais magra. Não passa da sombra do que foi um dia. Agora parece uma abatida Rainha de Copas que, sentada diante de seu palácio, assiste ao teatro armado no qual é atração principal. Uma Rainha que não tem mais poder, que há muito não grita ordens para que cabeças sejam cortadas. Pelo contrário, passa os dias desejando que o único pescoço a ser trespassado pela lâmina enferrujada de uma guilhotina seja o seu.
Foi no natal de 1995 que a filha de Ivanise desapareceu. Desde então, a busca é contínua. A ela se juntaram outras mães. Embora hoje não sejam apenas mães, uma vez que filhas, esposas e irmãs também fazem parte, são todas mulheres. Todas em busca de seus desaparecidos. A ONG Mães da Sé cresceu tanto que hoje é uma das maiores do Brasil.
O cansaço notável a olho nu, porém, tem mais significados. Há menos de vinte e quatro horas uma das mulheres que estaria ali, aguardando sua vez de ser entrevistada, faleceu sem solucionar o mistério ao qual dedicara seus últimos anos de vida. De acordo com a contagem da organizadora, foi a 14ª que morreu sem encontrar uma resposta para o desaparecimento de seu ente querido.
Desaparecer: Penso que, há muito, o centro velho de São Paulo não é mais berço das causas populares e de si próprio. Passa a impressão de que foi esquecido pela sociedade, aparecendo apenas, de quando em quando num jornal velho ou num programa de televisão, sobretudo lá pelas onze horas da noite. Horário em que estamos dormindo ou ocupados demais sendo politizados nas redes sociais. O centrão velho também é um ente desaparecido.
— O mais importante de tudo tá ali, ó… não, não a mãe chorando. Atrás. Isso. Subindo os degraus… Tingue-lingue! — disse o homem bêbado, inclinando a cabeça inchada na minha direção.
A Catedral da Sé se erguia fria em seus blocos de mármore. As portas abertas sob os arcos góticos. Um portal convidativo para a única e verdadeira salvação. Fé.
— Fica bonito na tevê? Ô se fica! Mães chorando, cartazes espalhados nos degraus. Ó o câmera: entre uma entrevista e outra, ele pega diferentes ângulos da igreja. Imagina isso na tevê? Aqueles arcos, as torres dos sinos, as estátuas dos santos, o resgate da religião como derradeira salvadora das causas perdidas. Na moral? Isso vai ficar bonito pra caralho! Com violinos e um coral de crianças, então? — ele ensaiou alguns passos de dança atabalhoadamente, fingindo tocar um violino.
Na maior parte do tempo, o sujeito parecia completamente bêbado. Mas, de fato, levantou uma questão interessante na qual não havia pensado. Dada a atual situação do país, o palco das reinvindicações populares não é aqui, na Sé, mas sim o vão do MASP.
— Ah, esse tipo de coisa não muda nada aqui no país, então pode ser num local mais discreto, tipo aqui.
Voltei a registrar as reações das mães. As perguntas da repórter e sua equipe. A reação de quem passava, olhava ou simplesmente ignorava a cena.
— Já ouviu falar no experimento do Gato de Cheshire?
Antes que eu respondesse, pois eu sabia a resposta, ele explicou se tratar de um experimento realizado por um gato: a pessoa é introduzida numa caixa com um frasco de veneno.
— Mas não se trata de colocar uma pessoa de verdade dentro de uma caixa. Que loucura! É apenas um experimento imaginário, cujo objetivo é determinar se a pessoa está viva ou morta. Assim, o observador, ou seja, o gato, estará diante de um enigma: qual é o estado da pessoa dentro da caixa? A resposta é simples: ela está viva e morta ao mesmo tempo e somente a observação de um felino pode determinar seu destino. Essas mulheres vivem o mesmo dilema do gato: têm de conviver e coexistir com duas realidades distintas que, paradoxalmente, não podem existir ao mesmo tempo! Na primeira situação seus filhos estão vivos. Na segunda, mortos. A resposta só virá se houver o reencontro. A elas o descanso é tão incerto quanto um problema sem solução. Tudo o que lhes resta é aguardar. E aguardar…
Quando terminou, o homem cuja sanidade eu desconfiava ser inexistente estava à beira das lágrimas. Sacou um lenço imundo do bolso e secou os olhos vermelhos.
— Não é experimento do gato de Schrödinger? — tentei corrigi-lo, enquanto ele assoava o nariz, atraindo alguns olhares irritados.
— Não, não, não! É Gato de Cheshire, mesmo. Sem o “S” e o “Rödinger”, com “Ch” e “Eshire”, sabe?
Fiz que não.
— Os gatos de Cheshire costumam aparecer quando uma criança desaparece e desaparecem quando a criança aparece. O País está cheio deles, por todos os lados. É mais comum do que parece.
Aquilo deveria fazer sentido em algum lugar.
Dias depois, quando a reportagem for ao ar, muito do que o bêbado de chapéu verde falou estaria certo. A reportagem ficou bacana, emotiva, religiosa e de cunho social. Tinha até o coral de vozes angelicais de fundo durante as cenas gravadas na Catedral. Ficou bonito mesmo.
Voltando àquela manhã desoladora na Catedral da Sé, é curioso imaginar que estamos na Era da Informação e mais desinformados do que nunca. Curioso, na verdade, é o cidadão de passagem. Para, olha um ou outro cartaz e logo a atmosfera mágica aplica seu efeito: clima sufocante, sensação de perigo. As mãos apalpam os bolsos. O cidadão segue caminho. Mas não podemos culpá-lo por suas esquizofrenias. Quem é que queria estar na pele daquelas pessoas? Com a temperatura abaixo dos dezenove graus, respirando o ar envelhecido do centro e a todo instante tendo que checar os bolsos?
Antes de ir embora, vejo que os policiais continuam em seu grupo bem organizado — o Um, o Dois, o Três, o Quatro, o Cinco… —, monitorando cada ação dos mendigos, que por sua vez, indiferentes a tudo, contam histórias uns para os outros perdidos noutro mundo. Os alunos do ensino fundamental respondem à chamada e entram na Van que os levará para casa, acompanhados de suas professoras.
Exceto uma. Sentada no banco de madeira da delegacia, onde policiais entram e saem, tenta encontrar a melhor forma de contar para uma mãe do outro lado da linha como sua filha desapareceu. Essa menina poderia muito bem se chamar Alice… agora todo tempo é precioso…
É como diz o Chapeleiro quando Alice lhe pergunta quanto tempo dura a eternidade: “Ora, às vezes apenas um segundo”, ele responde.
Nessas horas o tempo voa!

Crédito da imagem: Domínio Público
Capítulo do livro “Alice através da toca do coelho: um livro-reportagem sobre crianças desaparecidas“
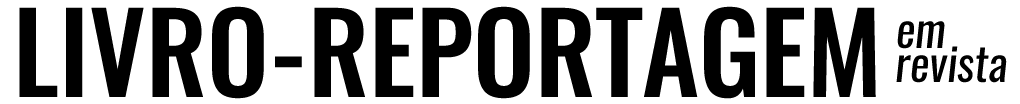






[…] *Publicado na edição de janeiro da revista digital Livro-Reportagem em Revista. […]